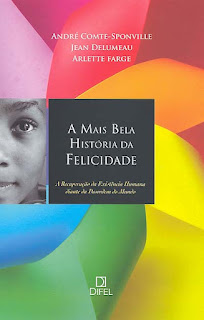O discurso como
encenação
Como o
texto faz falar
Vou-me esforçar por
que este texto seja o mais inteligível possível ao leitor, porque estou ciente
de que as questões de que me ocuparei podem lhe ser ignoradas. A fim de
facilitar tanto quanto possível a compreensão pelo leitor, é forçoso que eu
defina, previamente, alguns termos que constituirão o conjunto de pressupostos mediante os quais se
orientarão minhas reflexões. Entre eles, estão:
a) Ato de linguagem – é a ação social na
qual o falante, apropriando-se da língua, converte-se em sujeito da produção de
enunciados, segundo uma intencionalidade que pode lhe estar ou não
transparente. Todo ato de linguagem
evidencia duas condições: o da produção e o da interpretação. Assim é que todo
ato de linguagem instaura dois tipos de relações:
- a
relação que o sujeito enunciador e o sujeito interpretante estabelecem entre si
em face do propósito linguístico;
- a
relação que eles mantêm um em face do outro.
Todo
ato de linguagem encerra o Explícito, que toca à atividade de Simbolização
referencial feita na/ pela linguagem (ou seja, atividade através da qual a
realidade é referida e conceituada pela linguagem), e o Implícito, que toca às
representações coletivas que nos foram legadas pelas nossas experiências
sócio-culturais e que constituem o conjunto de saberes a respeito do mundo. O
Implícito é dependente das circunstâncias
de produção do discurso.
b) Discurso – constitui a totalidade de um
ato de linguagem particular.
c) Texto – é a configuração linguística de
um ato de linguagem.
d) real – o real não existe
independentemente do discurso. Trata-se de uma instância construída na e pela
linguagem em discurso. Ao usar a língua, os protagonistas supõem sua existência
exterior ao discurso, de modo que eles agem como se a realidade verdadeira
exterior à linguagem existisse. No entanto, o que chamamos de real não é senão
produto das representações coletivas
produzidas nas práticas sociais mediante o uso da linguagem (em discursos).
e) Circunstâncias de discurso – constitui
o conjunto de saberes pressupostos pelos protagonistas da linguagem e que são
atualizados quando da interação verbal. Trata-se de
-
saberes pressupostos a respeito do mundo: práticas sociais partilhadas;
-
saberes pressupostos sobre os pontos de vista recíprocos dos protagonistas.
Cabe
ainda considerar que a significação
de um ato de linguagem não preexiste à interpretação. A significação é
construída pelos protagonistas no interior da prática discursiva. Assim é que
nossos enunciados e as palavras não significam fora do discurso. Toda interpretação é uma suposição de
intenção (Charaudeau, 2010). Assim, o sujeito interpretante formula
hipóteses sobre a intencionalidade do sujeito enunciador. Para ser mais
preciso, o sujeito interpretante elabora hipóteses a respeito:
- do
saber do sujeito enunciador;
- do
seus pontos de vista em relação a seus enunciados;
- do
seus pontos de vista em relação ao próprio sujeito interpretante.
O sujeito
interpretante não pode nunca deixar de formular hipóteses. Também o sujeito
enunciador formula hipóteses sobre o saber do sujeito interpretante.
f) sujeito
Definir
o sujeito, no interior da Análise do Discurso, é concebê-lo como um ser do
discurso, como um ser social que se inscreve no discurso. O sujeito, assim, não
se confunde com o sujeito psicológico. Trata-se do sujeito
socio-histórico, interpelado pela ideologia. Ele é caracterizado pela
heterogeneidade e pela dispersão. A rigor, devemos pensá-lo como uma função do
discurso (a função sujeito). Pensá-lo como heterogêneo significa entender que
ele é atravessado por diferentes vozes sociais. Sua identidade não é fixa;
está, ao contrário, em constante reconstrução no discurso. Logo, não podemos
imaginá-lo como a pessoa de carne e osso, dotada de autonomia quando da
produção de seu discurso. O sujeito não é o senhor do que diz, tem apenas a
ilusão de sê-lo. Essa “ilusão” é produto da ideologia.
O
trecho que se segue ajuda-nos a compreender alguns aspectos do sujeito. Em Autoria, discurso e efeitos do trabalho
simbólico (2007), Eni P. Orlandi esclarece-nos a respeito do conceito de
sujeito:
“Quando o sujeito fala, ele está em
plena atividade de interpretação, ele está atribuindo sentido às suas próprias
palavras em condições específicas. Mas ele o faz como se os sentidos estivessem
nas palavras: apagam-se suas condições de produção, desaparece o modo pelo qual
a exterioridade o constitui. Em suma, a interpretação aparece para o sujeito
como transparência, como o sentido lá”.
(p. 65)
O
excerto em tela permite-nos entrever algumas noções desenvolvidas na Análise do
Discurso que precisam ser explicitadas. A primeira delas é que não só o sujeito
interpretante se encarrega de produzir um sentido para os textos produzidos
pelo sujeito enunciador, mas este também produz sentidos para seus próprios
enunciados. Ao fazê-lo, ele se ilude quanto à transparência desses sentidos. Os
analistas do discurso propõem que a linguagem é caracterizada pela opacidade,
de tal modo que o sentido não é autoevidente, não está inscrito nos enunciados, mas são construídos
pelos sujeitos em interação, assumindo a forma de efeitos de sentido. O sentido é dependente da formação ideológica,
do lugar sócio-histórico de onde se enuncia. Estou evitando falar em formação discursiva, já que não tenho a
intenção de me alongar nessa problemática. Mas é certo que os sentidos são
produzidos relativamente a uma dada formação discursiva.
Em
suma, a noção de sujeito com que operarei a análise de uma amostra de discurso,
mais adiante, é a que se acha nas palavras de Fernandes, em Análise do Discurso: reflexões introdutórias
(2007):
“(...) o sujeito discursivo deve ser
considerado sempre como um ser social, apreendido em um espaço coletivo;
portanto, trata-se de um sujeito não fundamentado em uma individualidade, em um
“eu” individualizado, e sim um sujeito que tem existência em um espaço social e
ideológico, em um dado momento da história e não em outro”.
(p. 33)
1. O discurso como encenação
Interagir
pela linguagem é encenar, à guisa do que acontece no teatro. No teatro, o
diretor se vale de um espaço cênico, que
inclui os cenários, a luz, a sonorização, os atores e o texto. Os atores visam
a produzir efeitos de sentido em um dado público imaginado. Também o locutor se
vale de textos para produzir efeitos de sentido num destinatário imaginado.
Todo
ato de linguagem coloca em confronto pelo menos dois sujeitos: o enunciador e o
enunciatário, que se alternam nessas funções cada vez que têm o turno de fala.
Temos, então, um sujeito enunciador e
um sujeito interpretante. Entretanto,
todo ato de linguagem, enquanto evento de produção e interpretação de
enunciados, implica saberes supostos entre os protagonistas, saberes que estão
intimamente relacionados às dimensões do Explícito e Implícito, que, por sua
vez, são indissociáveis das circunstâncias de discurso. Todo ato de linguagem pode ser representado na
seguinte equação, tomada a Charaudeau (2010):
Ato de linguagem = [Explícito x
Implícito] C de D
Lê-se
“C de D” como “circunstâncias de discurso”.
Uma vez
designando por EU o sujeito responsável por produzir o ato de linguagem e por
TU o sujeito interlocutor desse ato de linguagem, convém entender que:
- O TU
não é simplesmente o destinatário de uma mensagem, mas um sujeito que constrói
uma interpretação na base de um ponto de vista sobre as circunstâncias de
discurso; portanto, também sobre o EU.
- O TU-
interpretante não se identifica com o TU-destinatário, ao qual o Eu se dirige.
Assim, o TU-interpretante, ao produzir uma interpretação, constrói uma imagem
do Eu, que difere da imagem que o Eu fez de si mesmo, quando da produção de
seus enunciados.
Em
outras palavras, o Eu dirige-se a um TU-destinatário que esse EU acredita
(deseja) adequar-se ao propósito de seu ato de linguagem (o Eu faz uma
“aposta”). Entretanto, ao descobrir que o TU-interpretante não se identifica
com o TU-destinatário imaginado (fabricado), é forçado a concluir que o Eu que
produziu o enunciado não é o mesmo EU construído pelo TU; trata-se de um EU suposto (fabricado)
pelo TU- interpretante.
Assim,
no domínio da produção, se acha um EU que se dirige a um TU-destinatário
(fabricado pelo EU); no domínio da interpretação, se acha um TU-interpretante,
que constrói uma imagem do EU-enunciador.
Passarei
a usar a abreviação EUc (Eu comunicador) para referir-me ao EU responsável pela
produção do enunciado; e a abreviação TUd (Tu-destinatário) para referir-me ao
TU a quem se dirige o EUc. Correlativamente, distinguirei um TUi (Tu-interpretante)
que não se identifica com o TUd e que age independentemente do Eu e que se
investe de autor do ato de interpretação; e um EUe (Eu-enunciador) que é uma
imagem construída pelo TUi (Tu-interpretante).
Vê-se
que o que antes eram dois sujeitos, agora tornaram-se quatro sujeitos, a saber:
o EUc, o TUd, o EUe e o TUi.
Convém
esclarecer melhor essa configuração cênica do ato da linguagem. Vamos situar
cada ser do discurso relativamente aos domínios da produção e interpretação.
Situando-nos no processo de produção, o EUe é uma imagem fabricada pelo Euc
(EU-comunicador) – ele pode estar explicitamente marcada no enunciado, como em
“Eu não quero mais sair”, ou pode estar apagada, como em “Ele disse que você
não cumpriu com o acordo”.
Situando-nos
no processo de interpretação, o Eue é uma imagem construída pelo TUi (isto é,
uma hipótese de como é a intencionalidade de EUc, que se realiza no ato de
produção).
É
importante reter que, independentemente do âmbito em que nos situemos, o Eue
(como também o TUd) é um ser do discurso e que só existe no ato de
produção-interpretação. Sendo uma entidade discursiva, ele independe em parte
do Euc (e do TUi). O Eue é tão-só uma máscara
de discurso utilizada pelo Euc. O Euc é o sujeito agente que se institui
como responsável pelo processo de produção do ato de linguagem, em função das circunstâncias do discurso. O TUi é o
sujeito responsável pela interpretação que pode não coincidir com a imagem TUd
construída pelo Euc.
Como
pensar estas oposições relativamente aos efeitos de sentido? Quem é o
responsável pela produção dos efeitos de sentido? Resumidamente, convém
entender que:
- O Eue
(sujeito enunciador) é um sujeito da fala tanto quanto o TUd. É ao Eue que
compete produzir efeitos de sentido sobre o TUi. Mas esses efeitos de sentido
dependem do TUi, e este é responsável por construir uma imagem do Eue. O Eue é,
portanto, sempre uma imagem do discurso que mascara em maior ou menor grau o
Euc.
- O Euc
(sujeito comunicador) é um sujeito agente, que se situa na esfera exterior ao
ato de linguagem, como também o é o Tui (sujeito interpretante). O Euc é o
sujeito responsável pela produção de um ato de linguagem e é a relação entre
Euc e Eue que produz um efeito de sentido sobre o TUi. O Euc é sempre entendido
como uma testemunha do real.
Finalmente,
convém ainda ter em conta que todo discurso se estabelece na base de contratos e estratégias. Por contrato,
devemos entender que os protagonistas de um discurso estão dispostos a
sustentar um acordo sobre as representações linguísticas do corpo de práticas
sociais em que se inserem. Há uma expectativa mútua de que ambos se esforçarão para
manter o contrato tácito.
Por
estratégia, devemos entender que o Euc procura estruturar e encenar suas
intenções (o que configura sua intencionalidade) de modo a produzir
determinados efeitos – persuasão, sedução, convencimento – sobre o TUi, com o
objetivo de levá-lo a identificar-se – consciente ou inconscientemente – com o
TUd idealizado pelo Euc.
Consoante
ensina Charaudeau, em Linguagem e
Discurso – modos de organização (2010),
“(...) falar, em outras palavras,
comunicar é um ato que surge envolvido em uma dupla aposta ou que parte de uma
expectativa concebida por aquele que assume tal ato: (i) o “sujeito falante”
espera que os contratos que está propondo ao outro, ao sujeito-interpretante,
serão por ele bem percebidos; e (ii) espera também que as estratégias que
empregou na comunicação em pauta irão produzir o efeito desejado”.
(p. 57)
2. Uma amostra de análise
Vejamos,
agora, como se pode operacionalizar os conceitos anteriormente discutidos.
Segue-se um recorte de uma situação discursiva do programa de televisão A Grande Família.
.
Situação: Lineu
colocando terra em pratinhos de planta para evitar acúmulo de água que possa atrair
o mosquito da dengue.
TUCO – Tá fazendo o
que aí popozão?
LINEU – Esses vasos
aqui são um convite a dengue. Sabia que é na água parada que a fêmea do
mosquito da dengue deposita os seus ovos?
TUCO – Que que adianta
depositarem aí nesse vasinho se agora lá tem um lugar muito maior pra fazer
isso.
LINEU – Onde?
(espantado)
(Lineu e Tuco se
dirigem até a casa de Agostinho, onde o encontram enchendo com uma mangueira a
sua piscina)
LINEU – Agostinho!
Você pode me dizer o que é isso?
AGOSTINHO – Isso aqui,
Lineu, isso aqui é uma pscina.
LINEU – oh, Agostinho,
onde você vê uma piscina, eu vejo um possível foco de dengue.
AGOSTINHO – Onde você
vê um foco de dengue eu vejo um foco de dinheiro.
TUCO – Popozão, o
Agostinho ele escreveu a gente no programa de hospedagem domiciliar do panta. O
turista vai ficar hospedado aqui como se ele estivesse num hotel
AGOSTINHO – É hotel
com piscina. O senhor tem que ter ó (com o dedo indicador tocando a própria
cabeça).
Começarei
notando que as personagens assumem cada qual uma identidade social definida em
termos biológicos (no caso da relação pai-filho), mas também legais (já que o
pai é um papel social assumido por uma pessoa que detém direitos e reconhece
deveres). No Pequeno Dicionário de
sociologia (2009), lemos no verbete papel
social o que se segue:
“tarefas decorrentes de um status, que devem ser realizadas por uma
pessoa, ligadas e apreciadas positivamente por um círculo de pessoas”.
(p.109)
A noção
de status expressa melhor a noção de
pai como um sujeito social portador de direitos e submetido a deveres
instituídos por lei. Esse conjunto de direitos e deveres definem seu status social. A identidade social é,
portanto, esse conjunto de direitos e deveres estabelecidos e reconhecidos
socialmente.
Todavia,
o fenômeno da identidade não pode ser pensado fora dos quadros da linguagem. Daí
ser necessário estabelecer uma identidade discursiva (ou linguística) A
identidade social e a identidade discursiva são indissociáveis. A primeira é
reforçada, reiterada, ou ocultada no discurso; e a identidade discursiva se
constrói na base da identidade social. Lembramos que a dimensão biológica
associado ao status de “pai” é também passível de receber significações pelos
atores sociais.
O Eu
constrói sua identidade na relação com o outro e vice-versa. Charaudeau ensina
que a identidade se constrói na base de um paradoxo: o Eu, para tomar
consciência de sua existência, precisa da diferença do outro; mas ao tomar
consciência dessa diferença, desconfia dele e sente necessidade de rejeitá-lo,
ou de assimilá-lo, eliminando a diferença. No entanto, procedendo assim, não
disporia mais da diferença a partir da qual se define; ou perderia um pouco da
consciência de sua própria existência, que se constrói na diferenciação. A
solução é a regulação sutil entre aceitação e rejeição do outro; valorização ou
desvalorização do outro.
A
identidade social deve ser designada, a rigor, como identidade psicossocial, já
que está impregnada de traços psicológicos. A identidade discursiva configurará
o modo de ser assumido por um sujeito no momento mesmo em que produz seu
discurso. Assim é que um pai (identidade social) pode comportar-se
discursivamente como alguém autoritário, protetor, compreensivo, indiferente,
etc. (identidade discursiva). A construção da identidade discursiva depende da
mobilização de um dois espaços de estratégias, a saber, de credibilidade e de captação.
A credibilidade se vincula à
necessidade que tem o falante de que se acredite nele, tanto em termos de valor
de verdade de seus enunciados, quanto em termos de sua sinceridade. Há
diferentes atitudes discursivas relacionadas a estratégia de credibilidade, mas
não vou defini-las aqui.
Basta
saber, finalmente, que a captação
consiste na necessidade que tem o falante de assegurar que seu interlocutor
reconheça seu projeto de intencionalidade, ou seja, acolha suas ideias,
compartilhe de seus pontos de vista, opiniões e crenças.
Em
suma, como observa Charaudeau, em Identidade
social e Identidade discursiva, o fundamento da competência comunicacional
(2009):
“(...) a identidade discursiva se
constrói com base nos modos de tomada da palavra, na organização enunciativa do
discurso e na manipulação dos imaginários socio-discursivos. Ao contrário da
identidade social, a identidade discursiva é sempre algo “a construir – em
construção”. Resulta das escolhas do sujeito, mas leva em conta, evidentemente,
os fatores constituintes da identidade social (...)”.
(p. 5)
A
identidade social de Agostinho não conta com traços biológicos definidores (em
relação a Lineu e ao Tuco), evidentemente; mas tão-só se define no corpo de
práticas sociais, que fixa seu status por uma relação legalizada com a filha de
Lineu (Agostinho é marido da Bebel). Agostinho é o genro de Lineu, e seu status social se define na relação que
estabelece com ele, Lineu, que reconhece esse status.
O
primeiro turno de fala é de Tuco. Ao valer-se da língua, Tuco se investe em
sujeito do discurso, instaurando um EUc (responsável pela produção do
enunciado). O Euc constrói uma imagem de si, o EUe. Este EUe não está explícito no enunciado,
embora pressuposto. Esse Eue é um sujeito-que-pede-uma-informação. Em outras
palavras, o EUe se inscreve como um sujeito que visa a obter uma informação,
através de seu ato de linguagem. Lineu é o TUd, a quem se dirige o Euc, ou
seja, uma imagem construída pelo Euc. Esse TUd é construído como um ser do
discurso em condições de oferecer a informação solicitada pelo EUe. Mas note-se
que Lineu, na posição de sujeito interpretante (TUi) não responde diretamente à
pergunta do EUe. O EUe é construído de modo diferente pelo TUi, já que a imagem
do EUe construída pelo TUi é de alguém que parece ignorar a importância de
prevenção contra o mosquito da dengue; em outras palavras, ignora que o que o
pai fazia era encher de terra os pratinhos de planta a fim de evitar a
proliferação do mosquito da dengue. A imagem do Eue, construída pelo TUi, é,
portanto, a de um sujeito ignorante da importância daquela iniciativa, mas
também ignorante de um conhecimento dado por uma educação científica, qual
seja, o fato de que é a fêmea do mosquito Aedes aegypt que deposita os ovos na
água parada.
No
segundo turno de fala de Tuco, o EUe assume uma imagem de si como
‘quem-precisa-advertir’ o TUi da imprudência de outra pessoa (no caso, do
cunhado Agostinho). O EUe consegue, nesse caso, obter o efeito pretendido, já
que mobiliza o TUi a verificar o fato que foi enunciado (TUd coincide com TUi).
Lineu, TUi, ao formular a pergunta “onde?” pretende que o EUe lhe mostre o
lugar que favoreceria a proliferação do mosquito da dengue. E Lineu se depara
com uma piscina de plástico e com Agostinho a enchendo de água.
Lineu, ao
pedir explicação para Agostinho sobre o que estava fazendo, instaura-se como um
EUe explícito no enunciado (veja-se a marca “me”), que dispõe de poder para
interpelar Agostinho. O Eue constrói uma imagem de TUd como ‘alguém que tem de
dar explicação sobre o que está fazendo’. Mas TUi não coincide com TUd, porque
TUi age de modo diferente do esperado pelo EUe. TUi se coloca na posição de
mero respondente. Agostinho responde o óbvio: trata-se de uma piscina. É
interessante perceber que Agostinho faz de conta que não entende a intenção
subjacente à produção do enunciado “Você pode me dizer o que é isso?”. Claro é
que Lineu não estava perguntando sobre a realidade de X (isso). Ele sabia tanto
quanto Agostinho que o objeto em questão era uma piscina. O contrato foi,
momentaneamente, quebrado, porque Agostinho não reconheceu o fato de que ambos
compartilham da mesma representação social a respeito daquele objeto. Nesse
momento, fica clara a ideia de que o real
não preexiste ao discurso. Isso é patente na sequência do discurso. Vou
reproduzi-la baixo:
LINEU – oh, Agostinho,
onde você vê uma piscina, eu vejo um possível foco de dengue.
AGOSTINHO – Onde você
vê um foco de dengue eu vejo um foco de dinheiro.
Ambos
assumem o objeto ‘piscina’ como um dado de um modelo de mundo compartilhado.
Mas, considerado como objeto de discurso, importa ver como a significação desse
objeto é construída por cada um dos sujeitos. Do ponto de vista de Lineu, a
piscina não é piscina, mas um “foco de dengue” em potencial. Do ponto de vista
de Agostinho, a piscina não é puramente piscina, mas um “foco de dinheiro”, ou
seja, um meio de obter lucro. Piscina se reveste de duas significações que
expressam interesses antagônicos: constitui um ambiente favorável ao mosquito
da dengue e representa, assim, um risco à saúde pública; e também um meio de
ganhar dinheiro. Lineu tem interesse na prevenção; Agostinho, na obtenção de
lucro. A identidade discursiva aí fica bem clara e se constrói numa relação
caracterizada por antagonismo de interesses: Lineu é o pai de família
responsável, consciente de seus deveres como cidadão (identidade discursiva);
Agostinho é o genro irresponsável, (agindo como) um capitalista desinteressado
do bem-estar da comunidade, que deseja apenas lucrar.
Na
situação discursiva em questão, não importa tanto a referência à piscina como
uma entidade pertencente ao mundo propriamente dito, mas como uma entidade que
constitui objeto de discurso. Trata-se de duas realidades diferentes, segundo
os pontos de vistas dos sujeitos em interação. Essa realidade não é fixa,
acabada, imutável e dada a priori.
Creio esclarecedoras as palavras seguintes de Marcuschi, em A Construção do mobiliário do mundo e da
mente: linguagem, cultura e cognição, que se topa no livro Linguística e Cognição (2005):
“Não nego que exista certa relação
entre linguagem e algo externo a ela, mas nego que ela seja estável, pronta e
universal, e a mesma para todo sempre. Afirmo que conhecer não é um ato de
identificação de algo discreto existente no mundo e mediado pela linguagem:
conhecer é uma atividade sócio-cognitiva produzida na atividade intersubjetiva
(...). E a concordância geradora do consenso é o ponto de intersecção que
produz a crença objetiva”.
(p. 69)
Há,
portanto, uma realidade consensual; mas é preciso romper com uma visão realista
do mundo, que supõe uma realidade objetiva acessível e igual para todos. Esse mundo
objetivo é mera ilusão. A realidade se constrói por processos sociocognitivos
dotados de um investimento linguístico e moldados num dado sistema cultural.
Assim é que, ainda segundo o autor
“Conhecer um objeto como cadeira, mesa, bicicleta, avião, livro, banana, sapoti não é apenas
identificar algo que está ali, nem usar um termo que lhes caiba, mas é fazer
uma experiência de reconhecimento com base num conjunto de condições que foram
estabilizadas numa dada cultura. O mundo de nossos discursos (não sabemos como
é o outro) é sócio-cognitivamente produzido. O discurso é o lugar privilegiado
da designação desse mundo”.
(id.ibi)
Embora
ciente de que o texto já extrapola os limites da conveniência suposta para a
publicação em blog, preciso esclarecer o que se deve entender por objetos de discurso. O conceito se situa
na problemática da construção da rede referencial do texto, mas implica a
relação entre linguagem e realidade, tal como a vim pensando aqui. Volvendo ao
trecho em que se acham as contribuições finais de Lineu e Agostinho e
recuperando aí o problema da representação da entidade “piscina”, devemos
entendê-la como uma entidade do discurso (ou seja, entidade oriunda de uma
construção mental, que constitui um referente). No momento em que, por ato de
designação, pinça-se uma entidade e a introduz no discurso, cria-se um
referente passível de predicação. A rede referencial (ou seja, o sistema de
referentes textuais) é montada pelos objetos-de-discurso. Os
objetos-de-discurso são as entidades (referentes) construídas pelo discurso e é
nele e por ele que são postos, delimitados, transformados, desenvolvidos, etc.
Assim, no trecho em que figura a palavra “piscina”, que reproduzo novamente
abaixo,
LINEU – oh, Agostinho,
onde você vê uma piscina, eu vejo um possível foco de dengue.
AGOSTINHO – Onde você
vê um foco de dengue eu vejo um foco de dinheiro.
o referente
“piscina” é categorizado como “foco de dengue” (na fala de Lineu) e como “foco
de dinheiro” (na fala de Agostinho). Para efeito de compreensão do discurso,
não importa que se trata de um mesma entidade do mundo conhecido segundo uma
dada representação coletiva consensual como “piscina”, ou seja, ‘tanque
artificial destinado à natação ou ao banho para entreter’. Esse é o sentido
dicionarizado, que não está em jogo na interação, já que, como disse, o
discurso constrói a significação das palavras. Há um núcleo metadiscursivo (Charaudeau), que consiste neste sentido
relativamente estável e consensual, que figura no dicionário e que se sedimentou com
uso feito pelas gerações. Mas ele é apenas uma parte da construção do que é
um signo na significação de um ato de linguagem. Não posso ir além disso.
Veja-se,
por exemplo, como Carlinhos Cachoeira, enquanto referente de discurso, pode ser
reconstruído nos enunciados abaixo:
(1) Acusado de comandar a exploração do jogo ilegal em Goiás, Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos
Cachoeira, foi preso na Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, em 29 de
fevereiro de 2012, oito anos após a divulgação de um vídeo em que Waldomiro
Diniz, assessor do então ministro da Casa Civil, José Dirceu, lhe pedia
propina. O escândalo culminou na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos
Bingos e na revelação do suposto esquema de pagamento de parlamentares que
ficou conhecido como mensalão.
(2) Balanço das atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista
que investiga relações entre o bicheiro
Carlinhos Cachoeira e parlamentares e autoridades apontou que mais da
metade dos depoentes convocados se recusou a falar. Segundo o presidente da
CPI, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), das 24 pessoas chamadas para depor,
apenas 11 falaram aos parlamentares - sendo que duas delas deram depoimentos
parciais.
Em (1)
introduz-se o referente “Carlos Augusto Ramos” (nome do contraventor), cujo uso
produz uma ilusão de neutralidade do sujeito-escritor, após o qual se acha a
expressão “ o Carlinhos Cachoeira”, designação com que ficou conhecido na mídia
e pela sociedade brasileira. Trata-se da mesma pessoa, mas de dois modos
diferentes de representá-la (construi-la). Em (2), aparece o termo pejorativo
com que se designa o agente do jogo do bicho. Trata-se de uma representação
depreciativa de “Carlos Augusto Ramos”, de duas identidades construídas
discursivamente. Em contrapartida, omite-se a identidade dos “parlamentares e
autoridades” com que o bicheiro manteve relações, mas obtém-se um efeito de
sentido de denúncia contra o fato inadmissível de representantes do poder
político envolver-se em negociatas com um contraventor. Um cenário de corrupção
muito conhecido dos brasileiros, porque marca indelével de nossa história
política.
Queria
ter podido abordar outra questão que me parece fundamental para todo leitor que
pretende tornar-se mais experimentado no seu trabalho de interpretação e
compreensão de texto: a questão do autor. Quem é o autor? Que estatuto
discursivo tem ele? Como se estabelece sua relação com o discurso e com o
leitor? São algumas das questões implicadas nesse tema e que pretendo
(re)visitar em outra oportunidade.