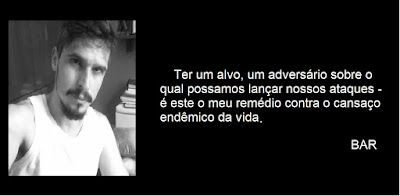Contra o cansaço endêmico
Em entrevista a Silvie Jaudeau, o filósofo romeno E. M.
Cioran responde a diversas perguntas sobre sua vida e obra. A certa altura,
Jaudeau pergunta ao filósofo: por que o
senhor rompeu com a poesia? - ao que
responde Cioran:[1]
“Por esgotamento interior, por enfraquecimento da minha
capacidade de emoção. Chega um tempo em que se fica ressecado. O interesse pela
poesia está ligado a essa frescura do espírito sem a qual rapidamente os
artifícios são percebidos. O mesmo vale para a prosa. Na medida em que fico
mais velho, escrever não me parece essencial. Livre de um ciclo de tormentos,
descubro enfim a dor da capitulação (...)”.
O esgotamento interior e o ressecamento
a que se refere Cioran não são apenas sintomas do envelhecimento e da
proximidade do fim da vida. São sintomas da apreensão da vanidade de tudo que,
outrora, lhe parecia indispensável. Na juventude, para enfrentar suas crises de
insônia e evitar que, afundado em seus tormentos, viesse a pôr fim a sua vida,
Cioran dedicou-se a escrever. Escrever, segundo ele mesmo confessou, foi sua
única alternativa para evitar o suicídio. A resposta de Cioran é reveladora de
um homem já cansado da vida; mas esse cansaço não é meramente um estado fisiológico
tardio; trata-se de um estado que o acompanhou durante quase toda a sua vida,
que marcou profundamente sua obra. Que este cansaço tenha-o mortificado ainda na juventude
prova-o o texto Esgotamento e agonia de Nos Cumes do Desespero, no qual o jovem
Cioran escreveu “quero morrer, mas
lamento querer morrer”[2].
As páginas de Cioran não são, para mim, simples objetos de estudo e reflexão;
são testemunhos de experiências que me são congênitas. Todo o sentido da
filosofia, para mim, se justifica nessas páginas. A atmosfera asfixiante, de um
pessimismo clarividente e desesperador, combinado com um ceticismo corrosivo,
deleita meu espírito tanto quanto se parece com a atmosfera em que, há
alguns anos, compus muitos de meus textos.
Ainda uma segunda pergunta dirigida a
Cioran acarreta uma resposta que deve ser aqui referida. Jaudeau pergunta ao
filósofo romeno: A sua verdade não reside
no silêncio oposto hoje aos que ainda esperam livros do senhor?. Leia-se a
resposta.
“Talvez; mas se não escrevo mais é por estar farto de
caluniar o universo. Sou vítima de uma espécie de desgaste. A lucidez e a fadiga venceram-me – falo
de uma fadiga filosófica tanto quanto biológica -, algo se rompeu em mim.
Escreve-se por necessidade, e a lassitude elimina essa necessidade. Chega um
tempo em que nada disso interessa mais.”
Eis aí, mais uma vez, o testemunho de
alguém que foi vencido pela vida; não porque foi inapto fisiologicamente para
suportá-la, mas justamente porque soube resistir a ela tão profundamente que a
desmascarou para apresentá-la tal como é: um
acontecimento sem sentido e sem propósito. A lucidez lhe foi o ônus por ter
suportado durante tanto tempo a vida. A lucidez, porquanto é um estado de
compreensão penetrante, cirúrgica, inquietante, revela aquilo que se mantivera
encoberto por nossas ilusões (no sentido freudiano, a saber, por crenças motivadas pelo
desejo). Por isso, em Do inconveniente de
ter nascido, ele asseverou: “Relativamente
a todo e qualquer ato da vida, o espírito desempenha o papel de
desmancha-prazeres”.[3]
Esse papel é extensivo à lucidez; no entanto, mais do que ser um
estraga-prazeres, a lucidez costuma fustigar a ponto de, como no caso de
Cioran, tornar-nos lassos. O tempo em que a lucidez atinge seu ápice é o tempo
em que “nada mais interessa”.
De que modo busco compensar o cansaço
contaminante de Cioran é o que minhas próximas linhas hão de explicar. A
explicação, a fim de que seja o mais inteligível possível, deve começar pelo
esclarecimento do significado deste meu enunciado: “Ter um alvo, um adversário sobre o qual possamos lançar nossos ataques
– é este meu remédio contra o cansaço endêmico da vida”.
Esse enunciado, eu o produzi entre um
trecho e outro de Nietzsche. Enquanto me mantinha debruçado sobre o livro A Vontade de Potência, ocorreu-me que
Nietzsche pôde viver a vida que tanto o ocupou em sua filosofia, em meio aos
seus tormentos costumeiros, porque soube aproveitar a vontade de viver para atacar seus adversários com o refinamento de
quem sabe esperar o tempo oportuno. Quem são os adversários aos quais se opunha
o autodenominado primeiro imoralista? É o próprio Nietzsche que nos esclarece, em Ecce Homo (Por que sou um
destino?):
“No fundo, são duas as negações que encerra em si a minha
palavra imoralidade. De um lado, eu nego um tipo de homem que até agora tem
sido considerado como superior: o dos bons, dos benévolos, dos caridosos; de
outro, contradigo uma espécie de moral que chegou a adquirir certa
preponderância, chamada mais claramente a moral decadente, a moral cristã”.
A filosofia nietzschiana combinou duas
formas de entusiasmo: um entusiasmo
ofensivo, combativo, que
identificou os adversários para atacá-los
em suas trincheiras; e um entusiasmo
afirmador, graças ao qual nos ofereceu belas páginas de uma lucidez
fortificante. Contra o veneno que enfraquece a vida, Nietzsche ofereceu um
antídoto: o seu Zaratustra, o seu homem
dionisíaco, o seu amor fati. Nietzsche,
que se insurgiu ferozmente contra as tendências negadoras da vida – reunidas
sob as categorias do niilismo e do pessimismo, em suas formas diversas – não
evitou o reconhecimento de que a vida é desfazimento, é dor, é sofrimento. Sua
ousadia consistiu em condenar aqueles que, enfraquecidos pela consciência desta
verdade, insistiam em desaprová-la, em condená-la.
“A condição de existência do homem é a
mentira; de forma diversa, seria não querer ver de modo recalcitrante como é
feita, no fundo, a realidade. Esta não é tecida de forma a estimular a todo
momento os instintos de benevolência, nem muito menos de maneira a permitir em
qualquer ocasião a ingerência de mãos estúpidas e boas”.
Segundo Nietzsche, o otimista é tão decadente quanto o
pessimista; mas, ainda consoante Nietzsche, o otimista talvez seja um tipo mais
nocivo porque nunca diz a verdade. Costumeiramente afirma sua “felicidadezinha”
na mentira. É um tipo caluniador da vida.
“Eu sou o primeiro imoralista; por isso, sou
também o destruidor por excelência”.
O primeiro imoralista foi um destruidor
que se pretendia também criador, que profetizava um tempo em que os homens
seriam artistas.
Seu ateísmo foi reconhecido como
instintivo, conforme atesta na passagem seguinte do texto Por que sou tão inteligente:
““Deus”, “imortalidade da alma”, “redenção”,
“além”, todos esses são conceitos que nunca levei em conta; nunca com eles
sacrifiquei o meu tempo, nem mesmo em criança; talvez nunca fosse bastante
ingênuo para fazê-lo? Para mim, meu
ateísmo não é uma consequência, nem mesmo um fato novo: existe comigo por
instinto. Sou bastante curioso, suficientemente incrédulo, demasiado
insolente para contentar-me com uma resposta tão grosseira. Deus é uma resposta
rude, uma indelicadeza contra nós, pensadores; antes, dizendo-se a verdade, não
é senão um tosco empecilho contra nós mesmos: não deveis cogitar dele!”.
O Deus cristão esteve, sem dúvida, na
linha de frente dos ataques ferinos de Nietzsche. Deus – bem notara o filósofo
– era a própria antítese da vida. O cristianismo paulino não é senão a
expressão da decadência. O cristianismo, retirando da vida qualquer valor em
favor de um “além-mundo”, caracterizado por levar à fadiga os instintos, é uma
religião niilista. Nietzsche acusa o cristianismo – e a prática missionária de
Paulo, particularmente – de estimular a má consciência “contra o sentimento de
dignidade da alma nobre”. Contra o Deus que enfraquece, Nietzsche escreveu:
“Ensino o não em face de tudo quanto torna
fraco – de tudo quanto esgota. Ensino o sim em face de tudo quanto fortifica,
do que acumula forças, do que justifica o sentimento de vigor”[4]
A radicalidade da crítica do conceito
de Deus, levada a efeito por Nietzsche, repousa no fato de ele ter conseguido, como poucos, operar uma incisão semântica que permitiu expor os sedimentos de
sentido perniciosos encobertos por um longo trabalho de doutrinação. Em Ecce Homo, lemos:
“O conceito de “Deus” foi arquitetado como antítese ao de
vida, tendo sido reunido nele, em terrível unidade, tudo o que havia de abjeto,
de venenoso, de calunioso: todo o ódio mortal contra da vida”.
Com a invenção do conceito do Deus
cristão, o homem torna-se culpado; a vida, objeto de renúncia; a “mundanidade”,
de desaprovação.
O que as páginas de Nietzsche nos
ensinam, em essência, é que a filosofia só pode estar a serviço da vida (e não
pode ser diferente!) se for para afirmá-la contra as diversas tendências que se
orquestram para enfraquecê-la, para negá-la. A vida, enquanto vontade de poder, é um pathos – o fato donde resulta um devir
e uma ação.
De que modo, afinal, compenso o peso do
cansaço mortificante das páginas cioranianas? A resposta salta evidente: é
necessário sorver o vigor nietzschiano compreendendo que o impulso para o "viver
mais" depende da força com a qual atacamos as tendências que conspiram para
aniquilá-lo.