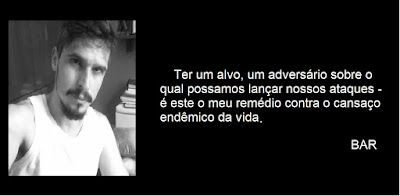Naturalismo ou Artificialismo
Uma decisão filosófica
Cosmovisão será o termo por mim adotado para denotar uma maneira geral
de compreender o universo e nossa relação com ele. Ainda que a entrada cosmovisão seja apresentada nos
dicionários como sinônimo de visão de mundo, a semântica de cosmovisão supõe
que, na compreensão do universo e na relação com ele, está envolvido um modo de
ser e de viver próprio do indivíduo que compreende o mundo e se relaciona com
ele. A cosmovisão se estrutura em torno de pressupostos atinentes ao
significado da vida, ao que é importante para a sua realização e reafirmação e
ao modo como o mundo funciona. Naturalmente, não se deve perder de vista que a
cosmovisão varia segundo um grupo ou uma sociedade; igualmente variável é o grau
em que dela compartilham os indivíduos.
Neste texto, duas cosmovisões serão tematizadas –
a cosmovisão naturalista e a cosmovisão artificialista[1].
Competir-me-á não só dilucidar os conceitos fundamentais nos quais se esteiam
as duas cosmovisões, mas, máxime, sustentar a posição segundo a qual, se à
filosofia deve-se destinar a tarefa de cunhar modos de ser – como creio seja a
sua tarefa mais própria -, então quem quer que se dedique a ela com um
compromisso existencial deverá decidir-se a assumir com fidelidade uma ou outra
cosmovisão, ciente de que essa assunção implica o indivíduo por completo, isto
é, demanda dele um compromisso psicofisiológico e/ou existencial com a
cosmovisão adotada. Também manterei a hipótese de que tal decisão não é
resultado de um ato puramente racional, intelectual, de um sujeito autônomo e
absolutamente livre, mas é motivada por suas disposições, que são
responsáveis por orientar suas ações, seus julgamentos e comportamento. As
disposições são integrantes da personalidade de cada indivíduo e se moldam como
resultado de experiências corporalmente vividas na fase chamada primeira infância, que compreende os
cinco primeiros anos de vida da criança.
As duas cosmovisões que serão contempladas nessa
discussão – a naturalista e a artificialista – são incomensuráveis entre si. A
escolha de uma delas pelo indivíduo, preocupado em levar adiante seu
compromisso existencial com a filosofia, implica toda a sua existência, todo um
modo de ser e de apreender-se com o mundo em vivências orgânicas que mobilizam
a sua estrutura fisiológica e que o expõem ao modo de funcionamento desse
mundo. Insisto em que a decisão não redunda numa escolha meramente intelectual
(embora a envolva), que definiria um horizonte interpretativo de mundo desvinculado
de nossa tonalidade afetiva. Pensar assim significaria assumir que o intelecto
é um princípio imaterial e separado do corpo, e que a decisão envolve algum
cálculo racional sem qualquer relação com a forma como somos afetados pelas
configurações vitais. A referida decisão a que o indivíduo humano não pode
esquivar-se implica toda a sua integralidade enquanto existente que se
constitui na relação necessária com o Todo (o mundo). A decisão envolve a
integração de seus afetos, de suas experiências psicofisiológicas, de suas
crenças, conhecimentos, disposições, de todo um complexo de formas de sentir o
mundo e nele agir. Afeto é, sem
dúvida, uma instância desse complexo que tem destaque na decisão, pois que a
decisão envolve nossos sentimentos, e afeto, em filosofia, de um modo geral,
designa tanto o sentimento quanto a impressão que causamos nos outros e os
outros em nós. Um afeto é um estado de alma, como tal é uma marca do modo como nos
inclinamos para o mundo, para os demais indivíduos.
1. As duas cosmovisões,
segundo Rosset
Com defender a necessidade de uma decisão que
defina uma orientação filosófica que deverá fundamentar a existência do
indivíduo que se dedica ao exercício aturado da atividade filosófica, não estou
sugerindo que, uma vez realizada a decisão, esse indivíduo deve cingir seu
interesse ao elenco de pensadores que conformam a cosmovisão assumida. O
convívio aturado com a literatura filosófica nos expõe a uma série imensa de
formas diversificadas de pensar o homem e o universo. É indispensável, por
isso, à consolidação de nossa formação filosófica dedicarmo-nos a estudá-las
com obstinação e sem juízos de valor negativos, os quais não contribuiriam
senão para estorvar a apropriação compreensiva satisfatória da riqueza do
pensamento produzido e legado por homens cujas vidas foram completamente
devotadas ao saber. Ademais, nossa atenção às diferentes formas de expressão da
tradição filosófica é tanto mais necessária quanto mais cientes estivermos de
que as visões de mundo filosoficamente expressas e defendidas pelas muitas
gerações de filósofos, situados em determinadas escolas, comprometidos com
diferentes sistemas de pensamento, não são, de modo algum, estanques; ao
contrário, se constituem numa longa cadeia de discursos dialogicamente estruturada.
Nossa formação filosófica é, portanto, devedora do grau com que nos permitimos
ser agentes de uma expedição intelectual por diversas paragens filosóficas em
cuja extensão os pensamentos se interpelam, se enunciam polifonicamente e as
questões se reclamam umas as outras, se imbricam nas diversas formas de
enunciação.
Rechaçada qualquer suspeita sobre o estar eu
sugerindo a indiferença a outros horizontes hermenêuticos filosóficos, quando
da escolha por assumir uma das cosmovisões que serão aqui tematizadas, começo
por inscrevê-las no enquadramento teórico proposto por Rosset, em seu A Anti-Natureza: elementos para uma
filosofia trágica (1989). Nesse livro, Rosset
desenvolve uma defesa da visão artificialista, única capaz de expressar e
subsidiar uma concepção trágica da existência. O desenvolvimento de sua posição
filosófica, que, reconhecidamente, tem inspiração no pensamento nietzschiano,
se faz pela elaboração de uma discussão que passa em revista as formas como as
duas visões encaminharam e subsidiaram o pensamento filosófico na Antiguidade e
na Modernidade. Rosset, inicialmente, citará, como mote de seu trabalho
investigativo, um trecho do aforismo 109 de Nietzsche, que figura em A Gaia Ciência (2012), o qual se reproduz abaixo:
“(...) quando deixaremos nossa cautela e nossa guarda? Quando é que
todas essas sombras de Deus não nos obscurecerão mais a vista? Quando teremos desdivinizado
completamente a natureza? Quando poderemos começar a naturalizar os seres humanos com uma pura natureza, de nova maneira
descoberta e redimida?” (p.126-127, grifo meu).
É o
próprio Rosset que responde a Nietzsche, nestes termos:
“(...) o homem será “naturalizado” no dia em que assumir plenamente o
artifício, renunciando à própria ideia de natureza, que pode ser considerada
uma das principais “sombras de Deus” ou então, o princípio de todas as ideias
que contribuem para divinizar a existência (e, desta maneira, depreciá-la
enquanto tal”)” (p.9-10).
O leitor deve atentar para o fato de que Rosset
considera a ideia de natureza, num primeiro momento, como uma das formas
através das quais se projeta a ideia de Deus como causa primeira ou princípio
explicativo da existência de todas as coisas. Logo em seguida, essa perspectiva
é reforçada com uma nova forma de categorização: “a ideia de natureza é o princípio de todas as ideias que contribuem
para divinizar a existência”. Se é “princípio”, é o que dá origem, o que
fundamenta e confere um horizonte de inteligibilidade às ideias que concorreram
para divinizar a existência. Disso é forçoso concluir que a oposição entre a
cosmovisão naturalista e a cosmovisão artificialista assenta-se na assunção, de
um lado, e na recusa, de outro, de um princípio ordenador, produtor de sentido
à luz do qual a totalidade do real se explica. A natureza é, assim, tomada como
algo já dado, anterior a todas as existências e responsável por dar-lhe uma
ordem, uma necessidade, uma finalidade.
Rosset nega a possibilidade de, algum dia, os
homens renunciarem à ideia de natureza como princípio explicativo do real.
Segundo nota o filósofo,
“(...) a ideia de natureza – qualquer que seja o nome com o qual ela
encontre, independendo da época, um meio de expressão – afigura-se como um dos
maiores obstáculos que isolam o homem do real, ao substituir a simplicidade
caótica da existência pela complicação ordenada de um mundo” (p. 10).
Dois são os objetivos perseguidos pelo autor: o
primeiro dos quais consiste em demonstrar que a ideia de natureza não é outra
coisa senão uma ilusão do desejo humano.
Nesse sentido, poder-se-ia dizer, com Rosset, que é no desejo humano que
devemos buscar a necessidade de compreender o mundo como uma totalidade
ordenada e dotada de finalidade. O segundo objetivo consiste em opor à ideia de
natureza a noção de mundo como artifício, em consonância com a qual o que
existe é da ordem dos fatos, da qual está excluído qualquer princípio anterior.
O que se encena, por conseguinte, no
desenvolvimento da proposta do autor é a oposição irredutível entre a
(cosmo)visão naturalista e a (cosmo)visão artificialista. Rosset empreende a
defesa da cosmovisão artificialista, a qual redunda na aprovação do caráter
trágico da existência. Na verdade, aprovar a existência, segundo o autor, é
aprovar o trágico, e aprovar o trágico significa prescindir de qualquer
referencial ontológico, como “ser”, “finalidade”, “necessidade”, “ordem”, etc.
Para Rosset, “ou a aprovação é trágica, ou não há aprovação”.
Nas subseções seguintes, apresentarei as duas
cosmovisões contempladas neste estudo, definindo as categorias conceituais
sobre as quais elas repousam.
1.2. A cosmovisão naturalista
Ao nos concentrarmos na descrição da cosmovisão
naturalista, o conceito fundamental que será preciso definir e sem cuja
definição é impossível compreender o que significa qualificar de naturalista
uma cosmovisão é o de natureza.
Antes de fazê-lo, é oportuno lembrar que, segundo Rosset, “toda filosofia é,
inevitavelmente, de tendência naturalista” (p. 125). Por quê? (talvez esteja se
perguntando o leitor) Porque toda filosofia se pretende um sistema e porque
está interessada em determinar princípios. Por princípios, deve-se entender aqui as causas primeiras. Já se vê que a filosofia naturalista supõe a
existência de um princípio metafísico que dá origem a tudo que existe (independentemente
do nome que lhe atribuamos). Segundo a cosmovisão naturalista, o que existe é
efeito de princípios que, em sua totalidade, não se reduzem ao acaso.
No que tange ao conceito de natureza, podemos começar por defini-la como um modelo de
inteligibilidade do real. Mas essa definição provisória não dá conta da
extensão da significação do conceito de natureza nem na história da filosofia
nem no enquadramento teórico proposto por Rosset. Considere-se, num primeiro
momento, a significação do conceito de natureza na história da filosofia, visto
que da elucidação da significação no contexto histórico filosófico depende a
compreensão de sua significatividade no enquadramento teórico proposto por
Rosset. Comecemos, pois.
Do latim natura,
natureza é a tradução da forma grega
phýsis. Para os antigos gregos,
phýsis recobre as ideias de processo de surgimento, de nascimento e de
crescimento, porque derivado do verbo phýo,
que quer dizer “fazer crescer”, “fazer brotar”, “fazer nascer”. A phýsis ou a
natureza é uma potência autônoma que organiza ou comunica a vida.
Dois sentidos básicos podem ser distinguidos no
conceito de phýsis.
1) natureza
universal: como natureza universal, a natureza é a ordem do Todo, que é o
mundo. Ela é a lei que rege todos os
fenômenos e a alma que confere vida ao corpo.
2) natureza
íntima: como natureza íntima, phýsis é a substância ou essência dos seres
que têm em si o princípio de seu movimento. Este significado encontramos na
pena de Aristóteles, o qual passou em revista os diferentes sentidos em que se
empregou a palavra na tradição. Aristóteles discriminou entre quatro sentidos:
1) geração
(gênesis) dos seres dotados de crescimento;
2) causa
interna do crescimento, lei imanente à vida;
3) matéria-prima
dos seres;
4) substância
(ousia) dos seres naturais.
Como natureza universal, o emprego da palavra
phýsis é antigo na história da filosofia. Encontramo-lo em Tales, na escola
pitagórica, em Xenófanes, Parmênides, Zenão de Eléia, Empédocles e Anaxágoras.
Para Pitágoras, por exemplo, a Natureza recobria mais do que o mundo sensível;
além desse mundo, ela abrigava, como ensinara Porfírio, os deuses imortais.
Platão, em Fedro,
via a Natureza como Lei Espiritual que rege o Universo. Os estóicos, por seu
turno, pensaram-na como o Todo e o absoluto. A natureza é a alma que governa o
mundo, o qual, por seu turno, era compreendido como um grande organismo vivo.
Destarte, de acordo com os estóicos, a natureza rege eternamente o Todo (o
mundo) com leis racionais e perfeitas.
Para Plotino, a natureza é a forma do Universo; é
também a alma, mas não do mundo; é a alma segunda produzida por uma alma
primeira que possui sensações e inteligência.
Cumpre ainda notar que, no sentido de essência,
natureza também figura no pensamento de grande parte dos filósofos da tradição.
Os estóicos compreendiam-na como aquilo que a coisa é ou que faz dela aquilo
que é – como essência, portanto. Como essência, a natureza é o ser mesmo das
coisas. Nesse caso, trata-se da natureza íntima de um ser. No entanto, esta
natureza não se concebe isoladamente do Todo; na perspectiva estóica, a lei da
minha natureza – a saber, daquilo que faz de mim quem eu sou – é estar
incorporado ao Todo.
O que externamos a respeito da significação do
conceito de natureza está longe de constituir uma exposição exaustiva, mas
suficiente para esclarecer a significatividade do conceito no interior da
proposta filosófica de Rosset. Pode-se, pois, formular uma definição de
natureza que lança luzes sobre o próprio horizonte hermenêutico recoberto pelo
naturalismo: a natureza é a causa do
desenvolvimento imanente das coisas. Todavia, essa definição não elide a
noção de essência como uma região da significação da ideia de natureza. Na
verdade, os dois sentidos gerais, anteriormente definidos, são abrigados pela
cosmovisão naturalista.
A phýsis ou natureza é o princípio donde se
origina o Kósmos; é a realidade primeira e última de todas as coisas. Como
força criadora originária de todas as coisas, a natureza é responsável pelo
surgimento, transformação e perecimento delas.
Aproximando-se ao fim desta seção, ajunte-se que
quem assume a cosmovisão naturalista do real endossa a compreensão de mundo
como uma Totalidade ordenada cuja origem se identifica com um princípio
primeiro – a natureza. Quem endossa a doutrina metafísica, deturpada mas de
inspiração platônica, segundo a qual há um ser como suporte das aparências
sensíveis, há uma ordem transcendente à desordem do mundo fenomênico endossa
uma visão naturalista.
1.3. A Cosmovisão artificialista
Nesta seção, estarei interessado em definir a
cosmovisão artificialista tendo em vista os aspectos que a tornam distinta da
cosmovisão naturalista. Na seção anterior, vimos o que significa natureza,
conceito fulcral da cosmovisão naturalista. Doravante, faz-se mister definir
dois conceitos também fundamentais em vista dos quais a cosmovisão
artificialista se estrutura como sistema filosófico de compreensão do mundo: o artifício e o acaso.
Não é escusável dizer, antes de nos lançarmos à
tarefa cujo desenvolvimento se nos apresenta imperioso, que o traço fundamental
com base no qual a cosmovisão naturalista se distingue da cosmovisão
artificialista toma forma na proposição: nada
se poderia produzir sem alguma razão. No passo seguinte, Rosset enfatiza a
característica distintiva da cosmovisão naturalista:
“A ideia fundamental do naturalismo é uma neutralização da atuação do acaso na gênese das existências: afirma
que nada se poderia produzir sem alguma
razão e, consequentemente, as existências independentes das coisas introduzidas
pelo acaso ou pelo artifício dos homens resultam de outra ordem de causas, a
ordem das causas naturais. Sabe-se
somente que a natureza é aquilo que resta quando em todas as coisas
neutralizam-se os efeitos do artifício e do acaso: ninguém determina exatamente
isso que resta, no entanto, para que se constitua a ideia de natureza, basta
supor a existência de qualquer coisa que resta” (p. 24, grifos meus).
A distinção entre natureza e artifício está
na base da separação tradicional entre o mundo natural e o mundo humano (o da
cultura). A cultura é vista, assim, como artifício, como produto da prática
humana. O domínio da cultura recobre, além das crenças, conhecimentos, valores
produzidos pelo homem, as técnicas de transformação da natureza. A cultura é
parte do ambiente resultante da transformação da natureza pelo homem. Essa
transformação é operada pelo homem por meio de seu trabalho. O que daí resulta
– a cultura – é o domínio do artificial e do convencional.
A natureza, por sua vez, recobre o domínio das
existências presentes e independentes da ação dos homens. No escopo da crítica
de Rosset, está justamente o postulado da separação entre natureza e cultura. A
ideia de um mundo como natureza implica a recusa da facticidade do real, bem
como uma exigência prévia de justificação do real. O artificialismo proposto
por Rosset assenta na imprevisibilidade de todo ser e assume o acaso de toda constituição. Assim, a
ideia de acaso implica a insignificância radical de todo pensamento ou
acontecimento, bem como a supressão das fronteiras entre os domínios do natural
e do artificial.
A ontologia proposta por Rosset é trágica, porque
descerra um mundo desnaturado e privado de sentido. Entanto, não é um mundo
absurdo o que se desvela; é um mundo frágil, simples e inocente, como diz o
autor. O mundo se diz frágil porque o acaso – a soma fortuita de circunstâncias
– o constitui. O mundo se diz simples, porque é um mundo em que tudo o que
existe é singular. Finalmente, o mundo é inocente, porquanto a existência permanece
incapaz de se reduzir a qualquer natureza.
A esta altura, o leitor deve ser prevenido de que
a ideia de artifício, que está implicada na caracterização do pensamento
artificialista, não recobre aquilo que resulta da ação humana. Não se deve
pensar o artifício como aquilo que imita o natural, ou como uma capacidade ou
método utilizado para fabricar algo. A cosmovisão artificialista se assenta na
ideia de artifício como um marcador de independência em relação a todo
princípio natural. O que se tem em vista com o termo artifício é a descrição de
um mundo desprovido de natureza.
O artifício compreende o conjunto dos fatos
existentes, ao qual se opõe a natureza como o domínio das leis não existentes
(ou existentes enquanto projeções do pensamento humano). Leis naturais não são
princípios objetivamente verificáveis, mas resultam de um processo de
construção/abstração da mente humana com base na crença numa regularidade dos
eventos fenomênicos. Só se pode postular leis naturais na suposição de que
existe uma ordem natural. É isso que a cosmovisão artificialista rejeitará: não
há leis naturais, porque não há tal ordem natural, porque não há tal natureza
que confere ordem ao mundo.
No tangente ao conceito de acaso, a cosmovisão artificialista toma-o como anterior à
constituição de toda série causal e de toda ordem. O acaso, no sentido trágico
que nos interessa esclarecer, é anterior a todo acontecimento e a toda
necessidade. Em Lógica do Pior
(1989), Rosset denominará esse acaso de acaso
original ou constituinte: original,
porquanto não supõe nenhuma natureza na origem de sua possibilidade; e
constituinte, porque é a origem produtora de tudo que se representa como dotado
de natureza, de ordem. O pensamento trágico tem em vista o acaso original que,
como se vê, prevê certa estabilidade de combinações, sempre, no entanto,
temporária. Pontuando esse aspecto do acaso, escreve Rosset:
“(...) produzindo tudo, o acaso produz também seu contrário que é a
ordem (donde a existência, entre outros, de um certo mundo, esse que o homem
conhece, e que caracteriza a estabilidade relativa de certas combinações” (p.
96).
O acaso é, na realidade, um antiprincípio, porque
somente ele permite explicar o caráter fortuito, aleatório, isto é, artificial-
não submetido a uma natureza e suas leis – de toda existência.
3. Considerações finais
A cosmovisão naturalista tem uma longa história
na filosofia. Sua vertente antiga se estende do século IV AEC. ao século XV EC
– um vasto período no qual encontraremos defensores como Sócrates, Platão, os
Cínicos, Aristóteles, passando por pensadores da Antiguidade Cristã e da Idade
Média e encontrando ressonância no início da Idade Moderna.
Todavia, entre o século XVI e a primeira metade
do século XVII, num período de aproximadamente cinquenta anos que precede a
restituição do naturalismo feita por Descartes, a cosmovisão artificialista pôde
desfrutar de algum prestígio. Entre os defensores dessa cosmovisão, se acham
Maquiavel, Pascal e Hobbes. É, no entanto, na modernidade, mais precisamente na
segunda metade do século XVII, que a cosmovisão naturalista ressurgirá com
Descartes e será ratificada na filosofia das Luzes, depois no idealismo alemão
e em todas as formas modernas de filosofia da história.
A decisão que se impõe ao estudioso de filosofia
em face das duas cosmovisões que se lhe apresentam como dois horizontes
hermenêuticos que permearam a história da filosofia é condição de possibilidade
para a assunção de seu compromisso existencial com a filosofia, a qual ou
deve-lhe ser um exercício metamorfoseador de seu modo de ser, ou, suprimindo-se
enquanto tal, se reduzir a um compêndio de ensinamentos entregues à mera
prática de assimilação intelectiva. Como se vê, a decisão sobre a cosmovisão em
que fundará sua existência envolve a escolha pelo indivíduo de quem serão os
seus mestres na tarefa de (re)edificação e reafirmação de seu modo de ser
próprio.
A oposição entre a cosmovisão naturalista e a
cosmovisão artificialista supõe a separação entre aqueles para quem o mundo se
explica por recurso a um princípio que lhe confere uma razão de ser e aqueles
para quem o mundo é desprovido dessa razão de ser, não sendo mais do que
resultado de encontros fortuitos produzidos pelo acaso. O que se opõe não são
apenas duas cosmovisões, mas dois modos de existir, dois modos de ser, de se
relacionar cognitiva e afetivamente com mundo, sem que dessa relação esteja
alijado o investimento fisiológico do indivíduo cuja vida é devotada
profundamente à filosofia. Na decisão, está em jogo a determinação do modo
próprio de relação fisiológica do indivíduo com o mundo.
É o ser próprio de quem escolhe, de quem assume
um compromisso efetivo com uma ou outra cosmovisão filosófica, com uma ou outra
forma de compreender o Uni-verso que se determina na escolha. A decisão também
define quais serão os filósofos que orientarão o trabalho permanente envolvido
na constituição da coerência de seu modo próprio de ser - trabalho com cuja
realização o indivíduo se compromete no momento da decisão. Essa decisão,
portanto, opõe os que viverão na companhia cotidiana de um Platão, de um
Epicuro, de um Rousseau, de um Schopenhauer aos que viverão na companhia de
sofistas, de um Lucrécio, de um Maquiavel ou de um Nietzsche.
[1]
Rosset (1989) usa apenas o termo “visão” para designar essas duas formas de
compreensão do real. Mas o termo “cosmovisão” me pareceu mais adequado para
descrever tanto a extensão totalizante da visão (pois se trata da visão do
Todo) quanto o grau de envolvimento com o mundo por parte de quem a assume.