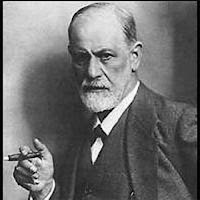São os homens, envolvidos num processo de produção material, que fazem a história da humanidade. O homem não se define apenas enquanto “ser”, mas, mormente, por seu “saber”. O homem é um ser natural humano que age tanto como “ser” quanto por seu “saber”.
Se lançarmos olhares sobre a organização dos homens no processo de produção, ao longo da história, não nos será custoso verificar que a humanidade é marcada por divisões contraditórias, que se caracterizam por lutas e conflitos que fazem mover a história: alguns são escravos; outros, senhores; uns são nobres; outros, servos; uns são operários, outros, patrões. Destarte, consoante ensinava Marx, a luta de classes é o motor da história.
É consabido que o sistema capitalista é, essencialmente, explorador. No capitalismo, tudo se transforma em mercadoria, inclusive os homens. No modo de produção capitalista, o operário vende sua força de trabalho, que se torna, pois, uma mercadoria, em troca de um salário. A função da mercadoria é atender a uma necessidade. No tocante à recepção pelo consumidor, deve-se ficar claro que essa necessidade é fabricada: oferecem-se as mercadorias aos indivíduos de tal sorte, que eles são levados a acreditar em que elas satisfazem suas necessidades. Há, no ato de consumir, uma satisfação que não se restringe ao objeto consumido, mas que transcende ao deleite proporcionado por ele. A satisfação, ou o gozo, reside no próprio ato de consumir – ato a que os indivíduos se abandonam através de uma vontade que atende aos imperativos do mercado. O consumismo, assim, levaria a um anestesiamento da consciência das massas.
A par do valor de uso de uma mercadoria, há seu valor estético. Tome-se a mercadoria “tênis”, por exemplo. Essa mercadoria tem um valor de uso, a saber, serve para calçar nossos pés. No entanto, não compramos tênis apenas pela razão de que eles servem para proteger nossos pés ou porque são necessários à mobilidade social (trabalhar, estudar, ir ao mercado, etc.); compramo-los também porque são sofisticados, porque exercem um efeito estético sobre nós. O acabamento da confecção, o designe, as cores, e outros recursos tecnológicos empregados, bem como a marca do fabricante são elementos que determinam a compra de um dado tênis. O tênis reveste-se, assim, de valores sociais referentes ao apelo estético que possui.
Para que se possa compreender o funcionamento das trocas de mercadorias no sistema capitalista, considere-se que, nas sociedades primitivas, um indivíduo que cultivasse abóboras podia trocá-las por outra mercadoria de que necessitasse (um tecido de linho, por exemplo). Todavia, não é o valor de uso que determina a troca, ou seja, que serviria de parâmetro para que se trocasse um par de sandálias por dois quilos de farinha, por exemplo. Impunha-se estabelecer uma medida comum de troca. Essa medida comum é a quantidade de tempo empregado e necessário para a confecção da mercadoria. Assim é que, se o trabalho de um sapateiro, em termos de consumo de tempo, é maior que o de uma costureira, então é justo que um par de sapatos seja trocado por duas camisas. Ora, a confecção dos sapatos exigiu um consumo de tempo maior; logo seu valor de troca deve ser maior.
Hoje, ninguém troca mais um quilo de açúcar por um quilo de arroz, por exemplo. O dinheiro é o meio pelo qual as trocas são realizadas. Cabe lembrar que o preço de uma mercadoria não resulta exatamente de seu valor de troca; na verdade, na determinação do preço, entram fatores tais como custo da matéria-prima, tempo gasto na sua produção, produção e manutenção dos meios de produção, etc. Tais fatores constituem o chamado custo de produção. Na sociedade capitalista, é raro encontrarmos um sapateiro que fabrica calçados; em geral, o que se nota são indústrias de calçados.
Considere-se, agora, a estrutura de uma fábrica de calçados. Essa fábrica pertence a alguém. O dono da fábrica é que possui o capital, ou seja, ele é dono dos meios de produção e das mercadorias. É ele que comprará o couro e contratará os trabalhadores para confeccionar os sapatos. Terminada a confecção de um par de sapatos, por exemplo, o capitalista não poderá vender a mercadoria pelo valor resultante do preço do couro somado ao preço das horas de trabalho gastas, porque, senão, não obterá lucro algum. Para obter lucro, ou ele deverá vender o produto por um preço maior (o que nem sempre é possível, em virtude das condições do mercado), ou ele deverá pagar aos seus empregados um salário menor. Assim, se ele conseguir que os trabalhadores produzam dez pares de sapatos por dia e recebam apenas o correspondente ao valor (trabalho) acumulado em cinco pares de sapatos, o valor concentrado nos outros cinco redundará em lucro. Assim , no modo de produção capitalista, há um tempo de trabalho excedente não-pago; a diferença existente entre o salário pago aos operários e o valor de trabalho acumulado na produção da mercadoria constitui a mais-valia. A mais-valia, base do regime capitalista e prática econômica de exploração, tornou-se possível em um contexto sócio-histórico em que os trabalhadores, desapropriados dos meios de produção, reificados nos ambientes de trabalho, só possuíam a sua própria força de trabalho, a saber, a sua própria capacidade de trabalhar, como um produto passível de venda.
Tomemos para reflexão o conceito de Indústria Cultural, doravante. A idéia fulcral que subjaz ao conceito de Indústria Cultural é a que toca à expansão da lógica da mercadoria para as esferas culturais. Assim, ao atuar na realidade humana e ao produzir novas necessidades, a Indústria Cultural oferece entretenimento com vistas a ocultar a contradição que resultaria da diminuição do tempo de trabalho. A Indústria Cultural impõe seu esquematismo aos produtores, reificando os homens, tornando-os peças da produção contínua e ampliada do capital. Avaliando a influência da televisão como parte do sistema da Indústria Cultural na vida cotidiana dos indivíduos, Renato Franco, em A televisão segundo Adorno: o planejamento industrial do “espírito objetivo”, artigo publicado no livro A Indústria Cultural hoje (2008: 113), escreve:
“Ela [a televisão] se insere no universo da diversão e, nessa medida, parece se oferecer ao espectador com a promessa de que irá arrancá-lo do sofrimento imposto diariamente pelas penosas exigências do processo de trabalho, quer sejam estas físicas ou psicofísicas”.
O autor observa ainda que se trata de uma oferta ilusória que reforça a tendência anti-intelectualista da sociedade e que, oferecendo a diversão como uma espécie de subterfúgio às agruras do dia-a-dia, contribui fundamentalmente para a restituição da força de trabalho. A diversão é, assim, uma extensão do tempo de produção. Segundo Adorno, a diversão implica resignação. Tanto o processo de trabalho mecânico quanto a diversão dispensam a atividade do pensamento. Aliás, a televisão não reprime o exercício do pensamento, da reflexão; na verdade, ela não o exige. Diante da televisão, basta aos espectadores deixar-se embriagar pelo fascínio das imagens, que se transformam na totalidade do real. A fronteira entre a imagem e a realidade aparece à consciência de modo atenuado: a realidade produzida pela televisão acaba por se tornar, para os telespectadores, o próprio real. Nesse sentido, pode-se dizer, com Adorno, que a televisão promove a regressão da consciência.
“Essa regressão da consciência não é produzida, contrariamente ao que estamos acostumados a pensar, apenas pelo suposto baixo nível cultural impingido pela televisão comercial aos seus consumidores, mas, sobretudo, pelo conjunto dos aspectos implicados no consumo doméstico desse aparato tecnológico.”
(Franco, 116)
Tomando-se a atuação da Indústria Cultural no âmbito cultural, cabe observar que a cultura, pela ação desse sistema de entretenimento e manipulação social, sofre um processo de mercantilização, para cujo desenvolvimento concorrem a racionalidade da produção e a indústria. Assim, os vínculos culturais se revestem de homogeneidade e a Indústria Cultural confere a tudo um ar de semelhança. A dinâmica da Indústria Cultural se assenta na necessidade de repetição ilimitada e incessante de certos produtos. Essa repetição massacrante se observa nos programas de televisão, nas programações de rádio e em toda a indústria do entretenimento. Novamente, aqui, vale notar que a repetição engendrada pela Indústria Cultural, que martela na consciência dos indivíduos a necessidade de consumo, está relacionada à regressão dos nossos sentidos e de nossa condição humana – condição que se erige sobre duas faculdades especificamente humanas: pensar e saber.
No tocante à manipulação ideológica da Indústria Cultural, conforme já foi observado, os bens de consumo que são oferecidos às pessoas, apenas aparentemente atendem a necessidades que, por assim dizer, emanam delas. Os bens culturais são, na verdade, impostos como se fossem reivindicados pelos indivíduos. Através de uma rede de manipulações, na qual se incluem pesquisas de mercado promovidas pelos agentes da Indústria Cultural, vai-se determinando para toda a sociedade o que se deve fazer, como se deve fazer, o que se deve pensar, como se deve pensar, o que se pode ou não desejar, etc. Por isso, insistimos em que as supostas necessidades do público consumidor são, na verdade, imposições, são fabricadas por todo um complexo de ações institucionais, que influenciam o inconsciente do sujeito, fazendo-o acreditar que deseja determinado produto, que necessita consumi-lo, que se trata de algo indispensável a sua existência.
A Indústria Cultural é responsável por produzir indivíduos subjetivamente esvaziados que, no momento em que consomem, não só buscam uma identificação narcísica com o objeto manipulado, mas também se submetem docilmente aos imperativos do mercado.
Doravante, vamo-nos ocupar com um elemento das práticas sociais responsável pelo obscurecimento da realidade, ou seja, graças ao qual os homens representam para si a sua relação com as suas reais condições de existência: a ideologia. Portanto, na representação ideológica, consoante ensina Althusser, não é a realidade tal como é produzida pelos homens que se representa, mas a relação imaginária dos homens com sua própria condição real de existência.
Vamos assumir que a ideologia é um dos meios usados pelas classes dominantes para exercer sua dominação. A ideologia mascara as reais condições de existência dos homens. Obscurece as contradições, oculta a exploração do modo de produção capitalista. A ideologia se sustenta sobre a suposição de que as idéias existem em si e por si mesmas e sobre a separação entre trabalho material e trabalho intelectual, ou seja, entre aqueles que executam tarefas e aqueles a quem compete a produção das idéias, a quem cabe “pensar”. O trabalhador é, então, aquele que não deve pensar; deve tão-só despender seu vigor no processo de produção de mercadorias; o “pensador”, a seu turno, é aquele que, não trabalhando, se encarrega de produzir idéias.
Vamos adotar, para efeito de reflexão, o conceito marxista de ideologia em cujo cerne se acha a idéia de ocultação da realidade. A ideologia, consoante ensina Marilena Chauí (1980: 129), constitui:
“um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (idéias, valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e com devem fazer. (...) A função da ideologia é a de apagar as diferenças como de classe e de fornecer aos membros da sociedade o sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a humanidade, a liberdade, a igualdade, a nação ou o Estado”.
Fique claro, pois, que a ideologia é, por natureza, hegemônica, já que, necessariamente serve para estabelecer e sustentar relações de dominação e, assim, constitui um instrumento de reprodução da ordem social que favorece a grupos dominantes.
Embora nos situemos na concepção marxista de ideologia, colhemos a contribuição do filósofo Mikhail Bakhtin que, ao tratar do conceito de ideologia, procura corrigir o equívoco perpetrado pelos marxistas, ao sugerirem que a relação entre a infra-estrutura e a superestrutura é direta. Em outras palavras, Bakhtin rever a proposição marxista, segundo a qual os acontecimentos da estrutura sócio-econômica repercutem imediatamente na esfera da superestrutura (em que se acham a cultura e a ideologia), situando a questão da ideologia não na consciência do sujeito, tampouco num universo supra-individual e transcendente, mas na esfera do cotidiano, o que o leva a propor uma ideologia do cotidiano. A ideologia do cotidiano está em relação dialética com a ideologia oficial (a das classes e instituições dominantes). A ideologia do cotidiano é (re)produzida nos encontros casuais do dia-a-dia, nas esferas marcadas pela proximidade com as condições de produção e reprodução da vida.
Destarte, de um lado, se acha a ideologia oficial e dominante relativamente estável; de outro lado, a ideologia do cotidiano, relativamente instável. Ambas em relação recíproca, constituindo o contexto ideológico pleno e único, inserido no processo global de produção e reprodução social.
Como adotássemos a perspectiva de Bakhtin, ao conceito de ideologia citado anteriormente deve acrescer-se a idéia de que a ideologia é a expressão de uma tomada de posição determinada. Essa tomada de posição redunda na adoção de uma perspectiva de classe, ou seja – considerando-se que o discurso é o lugar privilegiado da manifestação ideológica -, ao tomarmos posição em face de um assunto, de uma questão qualquer; enfim, ao participarmos das múltiplas práticas de linguagem, falamos a partir de um determinado lugar social, adotamos determinadas perspectivas, que, a seu turno, dizem respeito a posições de classes em conflito.
Tendo em conta que o discurso é o “lugar” da constituição do sujeito e da manifestação da ideologia, impõe-se considerar, em consonância com a perspectiva de Bakhtin, a natureza ideológica da palavra. Vamos assumir que toda palavra é signo ideológico. Em toda palavra utilizada, inscreve-se um “ponto de vista”. Toda palavra é tecida por inúmeros fios ideológicos, já que, ao tomar a palavra, o sujeito representa a realidade a partir de um lugar valorativo. A palavra acumula, assim, “as entoações do diálogo vivo dos interlocutores com os valores sociais, concentrando em seu bojo as lentas modificações ocorridas na base da sociedade (...)”. (Stella, 2005: 178)
É preciso ter em conta, quando se considera o papel da palavra nas relações humanas, que a palavra é responsável pelo contato entre a consciência do sujeito – consciência cuja realidade é o signo – e o mundo exterior à mente, que também é constituído de palavras. A consciência é construída discursivamente, ou seja, pela inter-ação com o outro pela palavra.
Outrossim, na discussão sobre a ideologia, devemos reconhecer que o meio social envolve por completo o indivíduo. O sujeito tem natureza sócio-histórica e é função das forças sociais. O indivíduo se torna sujeito em virtude da interpelação ideológica, que o impele a tomar uma posição determinada.
Bakhtin ensina que, no nível da ideologia do cotidiano, as atividades mentais e a consciência ainda não ganharam um revestimento ideológico nítido. É somente no estrato da ideologia oficial que os conteúdos ideológicos ganham mais densidade e concretude, já que terão passado por todas as etapas de objetivação social, penetrando no eficiente sistema ideológico especializado e formalizado da arte, da moral, da religião, do direito, da ciência, da escola, da literatura, etc. À medida que as interações, no nível do cotidiano, se reiteram, reproduzindo padrões, vão-se integrando no sistema ideológico que se vem formando num determinado grupo social; assim, nos estratos superiores da ideologia do cotidiano, se consolidam as enunciações, as representações, que, então, se integram completamente ao sistema ideológico social.
Esperamos que fique elucidada a idéia de que o modo como os homens pensam, os conteúdos de sua fala refletem o modo como representam a sua relação com as suas reais condições de existência. Nossas opiniões, concepções, crenças sobre o real, sobre as relações sociais são produzidas nas práticas sociais, são produtos do meio sócio-cultural e ideológico em que nos situamos. Nosso ser é modelado pelo sistema social. Em suma, convém atentar para as palavras de Valdemir Miotello, que, em Bakhtin – conceitos-chave (2005: 176), escreve:
“(...) a ideologia é o sistema sempre atual de representações de sociedade e de mundo construído a partir das referências constituídas nas interações e nas trocas simbólicas desenvolvidas por determinados grupos sociais organizados. É então que se poderá falar do modo de pensar e de ser de um determinado indivíduo, ou de determinado grupo social organizado, de sua linha ideológica, pois que ele vai apresentar um núcleo central relativamente sólido e durável de sua orientação social, resultado de interações sociais ininterruptas, em que a todo momento se destrói e se reconstrói os significados do mundo e dos sujeitos”.
Para efeito de discussão, basta, de início, reter que as ideologias são produzidas nas práticas sociais, por homens sócio-historicamente situados. As idéias que nos ocorrem, as perspectivas que assumimos nas práticas discursivas não derivam de espaços transcendentes, “imaginários”, não brotam em nossa consciência, como a água emana de uma fonte. Não somos a origem do que dizemos: o sujeito não é a origem do seu discurso – tem apenas a ilusão de sê-lo; ele é uma espécie de estação dos discursos; nas práticas discursivas, estamos constantemente reproduzindo outras práticas discursivas, adotando idéias, opiniões, argumentos, perspectivas veiculadas por outros discursos circulantes. A forma como representamos discursivamente a realidade é resultado do modo como nos relacionamos com essa realidade.
Um conceito que não pode ser ignorado, na consideração da ideologia, é o de alienação. A alienação torna possível o fenômeno ideológico. Consiste a alienação no fato de os homens não se reconhecerem como agentes sociais da história, como agentes produtores de suas próprias condições de existência. Ao contrário, alienados, eles se consideram produzidos por tais condições, eles se reconhecem como meros produtos da realidade, e não mais como produtores dela. A alienação inverte a relação entre realidade e produtor, de sorte que o produtor (homem) se torna o produto da realidade, a qual, por sua vez, torna-se uma entidade supra-individual que o domina, que o oprime, que o controla e esmaga. Os homens, alienados, atribuem a origem da vida social a causas “superiores”, sobre as quais eles não têm controle, tais como “deuses”, “natureza”, “razão”, “Estado”, “destino”, etc.
A título de ilustração de perspectivas ideológicas, assumir que o papel de mãe é um dom natural de toda mulher é assumir uma posição ideológica, ou seja, uma perspectiva afinada com os interesses das classes dominantes, uma vez que oculta o fato de que ser mãe é um papel determinado socialmente, e não um “dom natural”. Tampouco é uma posição a que toda mulher está predestinada. De certo modo, “ser mãe” não deixa de ser uma imposição social, já que existem expectativas sociais que acabam por “forçar” as mulheres a assumir a posição de “mãe”. Considere-se ainda dois temas tabu na sociedade, a saber, a virgindade das meninas e a homossexualidade. Tomemo-los no âmbito da família pequeno-burguesa e reconheçamos, de imediato, que, não obstante a verborragia institucional que acarretam, a valorização da virgindade das meninas e a repressão ao homossexualismo, quer entre os meninos, quer entre as meninas, têm razões que permanecem sob o véu ideológico e que, portanto, são ocultadas. Na família pequeno-burguesa, é necessário conservar a autoridade paterna e a domesticidade materna como forças para retardar o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, os quais serão úteis quando se tornarem arrimos econômicos, garantindo, assim, a unidade familiar. Por um lado, a defesa da virgindade está em consonância com a necessidade de evitar o fracionamento do capital: evita-se, assim, a constituição de novas famílias e a partilha do patrimônio acumulado decorrente da nova condição. Por outro lado, a repressão ao homossexualismo está afinada com o fato de que, nas relações homossexuais, não há reprodução e, portanto, não há vínculos familiares, que permitirão a reprodução do capital, pela geração de novos indivíduos para a inserção no processo de produção capitalista.
Se a ideologia mostrasse, por exemplo, que a repressão sexual e a conservação da virgindade estão ligadas à necessidade de conservar a energia vital para o trabalho, já que a atividade sexual diminui a rentabilidade e produtividade do trabalho alienado, ela se esfacelaria, não seria mais ideologia. Isso se deve ao fato de que a ideologia é, necessariamente, um sistema coerente e racional lacunar. Em outras palavras, o discurso ideológico é, por excelência, um discurso repleto de silenciamentos, de vazios, de lacunas. A ideologia é, assim, coerente “não apesar das lacunas, mas por causa ou graças às lacunas” (Chauí, 1980: 130).
Conquanto não nos seja possível discorrer sobre esta questão neste texto, esperamos que a reflexão que desenvolvemos até aqui faça erigir a tese de que uma educação que se pretende transformadora tem de propiciar condições para a problematização das visões de mundo, das perspectivas ideológicas assumidas discursivamente e incorporadas pelos aprendizes de modo quase inconsciente. O trabalho com a prática de leitura deve atuar no nível da estrutura ideológica do texto, patenteando aos alunos as lacunas, os silenciamentos, as posições ideológicas assumidas pelo sujeito – sujeito que se apresenta no discurso de formas várias. Durante a prática pedagógica, o professor deve-se esforçar por levar os alunos a se aperceberem do aparelhamento ideológico de que se serve a sociedade com vistas à conservação do status quo, pela imposição de padrões, de modelos de comportamento, atitudes, crenças, etc.