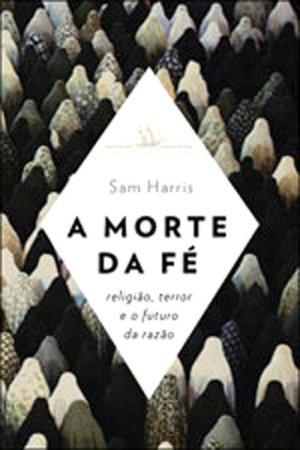
A morte da fé
Nesta nova oportunidade, atendendo às exigências de meu espírito intelectualmente inquieto, gostaria de dar a saber aos leitores as contribuições de Sam Harris, em A morte da Fé (2009), para a construção de uma consciência crítica sobre os fundamentos e imposturas da fé religiosa.
Não se trata, a rigor, de uma resenha, mas de um convite à leitura deste grande trabalho do filósofo e neurocientista Sam Harris. Vou selecionar (até onde li) as passagens que me chamaram a atenção, no tocante ao seu poder argumentativo. A preocupação do autor é lançar por terra os fundamentos da fé religiosa, insistindo na necessidade de combater o seu poder nocivo e mortal à sobrevivência humana. Nesse tocante, atacará, pela raiz, o fundamentalismo islâmico que, para ele, é a maior ameaça à vida humana no século XXI.
Cuidarei para que o pensamento do autor não seja fragmentado, quando da apresentação das passagens mais poderosas argumentativamente. Na contracapa, lemos o seguinte:
“Incisivo e provocador. A morte da fé propõe uma reavaliação completa do estatuto ético das crenças religiosas. Defendendo sem concessões o primado da razão sobre a fé. Sam Harris investiga os fundamentos teológicos das principais religiões do mundo sem se intimidar com o enorme desafio teórico suposto pela tarefa. Baseando-se numa erudita bibliografia para demolir, um a um, os mitos construídos ao longo de milênios de inquisições, guerras santas e genocídios, Harris aponta o terrorismo islâmico como o maior dos perigos que a sobrevivência da fé impõe ao mundo civilizado. A morte da fé constitui, sobretudo, uma vigorosa denúncia da natureza intrinsecamente violenta e sectária das religiões dogmáticas”.
(grifo meu)
Estou ainda no terceiro capítulo desta instigante e lúcida obra intelectual e, por isso, me limitarei a expor os trechos que me despertaram atenção especial até então. O primeiro capítulo, cujo título é A razão no exílio é dedicado à discussão do papel da crença na vida individual e do mito da moderação na religião, ou seja, o autor avalia o que é ser um religioso moderado, aquele que diz respeitar a liberdade de crenças religiosas diversas. A par dos religiosos moderados há os religiosos extremistas, mas reconhece o autor que as pessoas de fé se situam num continuum.
No tocante à natureza da crença, tema que será explorado no segundo capítulo, já no primeiro capítulo escreve o autor:
“Uma crença é uma alavanca que, uma vez acionada, move quase tudo o mais na vida de uma pessoa. Você é um cientista? É liberal em política? É racista? Todas essas são apenas vários tipos de crenças em ação. Suas crenças definem a sua visão de mundo; elas ditam o seu comportamento; são elas que determinam as suas repostas emocionais para com os outros seres humanos. Se você duvida, imagine como a sua experiência de vida mudaria de repente se você passasse a acreditar em uma das seguintes afirmações:
1.Você só tem mais duas semanas de vida.
2. Você acaba de ganhar na loteria – o prêmio é de 100 milhões de dólares.
3. Seres extraterrestres implantaram um receptor no seu crânio e estão manipulando seus pensamentos”.
(pp. 10-11)
No capítulo segundo (dando um salto a título de coerência temática), o autor define crenças da seguinte maneira:
“As crenças são princípios de ação, seja lá o que forem em termos cerebrais, elas são processos pelos quais nosso entendimento do mundo (seja correto ou equivocado) é representado e disponibilizado para orientar o nosso comportamento”.
(pp. 58-57)
(ênfase no original)
O autor destaca a relação entre crença e comportamento, e nos lembra que
“O poder que a crença exerce sobre nossas vidas emocionais parece ser total. Para cada emoção que somos capazes de sentir, existe uma crença que pode despertá-la em questão de momentos”.
(p. 59)
Crenças e convicções, segundo Harris, devem ser coerentes, tanto do ponto de vista lógico quanto semântico, com vistas a se tornarem válidas. Além disso, tanto umas quanto outras devem representar um dado estado do mundo. Assim, ensina-nos:
“Para saber a que se refere uma dada convicção, preciso saber o que minhas palavras querem dizer; e, para saber o que minhas palavras querem dizer, minhas convicções devem ser minimamente coerentes. Não há como fugir do fato de que existe uma estreita relação entre as palavras que usamos, o tipo de pensamentos que podemos pensar e o que acreditamos ser verdade a respeito do mundo”
(p. 60)
Embora reconheça que os seres humanos não são sempre logicamente coerentes, ensina-nos ainda, à página 65:
“Para que seja possível o conhecimento do mundo, mesmo o mais básico, as regularidades no sistema nervoso devem refletir, de forma coerente, as regularidades do ambiente. Se cada vez que eu visse o rosto de uma mesma pessoa um conjunto de neurônios diferentes disparasse no meu cérebro, eu não teria como formar uma lembrança dessa pessoa. O rosto dela poderia parecer um rosto num dado momento, e uma torradeira no momento seguinte, e eu não teria por que ficar surpreso com sua incoerência, pois não haveria nada que conferisse coerência a um dado padrão de atividade neural”.
(p. 65)
A leitura desse último excerto já nos dá a medida da consistência teórica com que o autor, um filósofo e neurocientista, trata da questão do conceito de crença. Não há dúvida de que suas reflexões se baseiam nos conhecimentos, ainda em tenro desenvolvimento, das ciências neurológicas.
Ainda no capítulo segundo, na seção A fé e as evidências, o autor começa a avaliar as implicações que o conceito de crença, então definido e discutido anteriormente, terá no domínio da fé. De agora em diante, discutirá o conceito de crenças religiosas. Aqui questionará o fato de elas serem colocadas à margem do discurso racional e de, por isso, não poderem ser submetidas à crítica. Ele nos mostrará que elas não se distinguem, essencialmente, das outras crenças, para as quais necessitamos de justificativas que as validem.
“Não é necessário nenhum conhecimento especial e psicologia ou neurociência para observar que os seres humanos em geral relutam em mudar de ideia. Como muitos autores já observaram, somos conservadores nas nossas convicções, no sentido de que não acrescentamos nem subtraímos algo do nosso estoque delas sem que haja razão para isso”
(p. 69)
Esse trecho sugere quão difícil é a uma pessoa religiosa modificar, abandonar ou, ao menos, pôr em dúvida, as suas crenças dogmáticas. Lembra o autor que as convicções, assim como as crenças, como sejam tentativas de representar estados de coisas no mundo, devem elas estar relacionadas coerentemente (ou corretamente) com este mundo, pois só assim podem ser consideradas válidas. Assim, escreverá, com perspicácia:
“(...) Tampouco posso dizer coisas como “Acredito em Deus porque isso faz com que eu me sinta bem”. O fato de que eu me sentiria bem se existisse um Deus não me oferece a menor razão para acreditar na existência de um Deus por qualquer outra afirmação consoladora. Digamos que eu queira acreditar que há um diamante do tamanho de uma geladeira enterrado em algum lugar no meu quintal. É verdade que eu me sentiria muitíssimo bem se acreditasse nisso. Mas será que eu tenho alguma razão para acreditar que realmente há no meu quintal um diamante milhares de vezes maior do que qualquer um já descoberto? (...) Acreditar que Deus existe é acreditar que estou em alguma relação com a sua existência de tal forma que sua existência é em si a razão para a minha crença. Deveria haver alguma conexão causal, ou uma aparência disso, entre o fato em questão e a minha aceitação dele. Assim, podemos ver que as crenças religiosas, se quiserem representar convicções sobre a forma como o mundo é, devem ser comprovadas como quaisquer outras”.
(p. 71)
(grifo meu)
De fato, as crenças religiosas não representam a forma como o mundo funciona; não representam nenhum estado do mundo. Não se apóiam em evidências, porque não há evidências que as sustentem, que as justifiquem. Nesse tocante, o autor é incisivo e insiste:
“Simplesmente não existe outro espaço lógico para as nossas convicções sobre o mundo que ocupamos. As afirmações religiosas, enquanto pretenderem tratar da forma como o mundo é – Deus pode realmente ouvir as suas preces; Se você tomar seu santo nome em vão, coisas muito ruins vão acontecer com você, etc. -, terão de se posicionar em relação ao mundo e às nossas outras convicções a respeito dele. E é somente se forem posicionadas dessa forma que afirmações desse tipo poderão influenciar nossos pensamentos e comportamentos subsequentes. Para uma pessoa afirmar que suas convicções representam um verdadeiro estado do mundo (visível ou invisível; espiritual ou mundano), ela deve acreditar que suas convicções são consequência da forma como é o mundo. Isso, por definição, a deixa vulnerável a novas evidências”
(p. 72)
(ênfase no original)
Ainda nesse parágrafo, o autor observa que
“(...) se nenhuma mudança concebível no mundo puder fazer uma pessoa questionar suas convicções religiosas, isso prova que suas convicções não estão levando em consideração nenhum estado do mundo. E ela não poderia afirmar, portanto, estar representado o mundo, de forma nenhuma”.
Isso nos mostra quão as crenças religiosas estão apartadas do mundo, porque, afinal, não dizem nada sobre algum estado do mundo. Há inúmeras passagens em que o autor prova-nos que a fé é uma impostura. Devemos ter em mente que as crenças religiosas, fundadas na ignorância, dispensam as provas, sequer as exigem (e isso é respaldado no próprio evangelho (João 20, 29 – “Bem-aventurados os que não viram e creram”). Nesta próxima passagem, Harris mostra quão arraigadas são as crenças religiosas, a tal ponto que nem o mais aterrador acontecimento vivenciado pela humanidade é capaz de suprimi-las:
“(...) em qualquer esfera da vida as convicções são um cheque que todo mundo insiste em descontar deste lado da sepultura: o engenheiro diz que a ponte vai aguentar; o médico diz que a infecção é resistente à penicilina – as razões que essas pessoas apresentam para suas afirmações sobre o funcionamento do mundo podem ser desmentidas. O mesmo não acontece com o mulá, o padre e o rabino. Nenhuma mudança neste mundo, ou no mundo em que eles vivem, poderia demonstrar a falsidade de muitas de suas convicções não se originam em qualquer observação do mundo, nem do mundo que eles vivenciam. (Elas são, no sentido de Karl Popper, “infalsificáveis”). Aparentemente, nem o Holocausto levou judeus a duvidarem da existência de um Deus onipotente e benevolente. Já que ver a metade do seu povo ser sistematicamente jogada nos fornos crematórios não é uma prova contra a noção de que um Deus todo-poderoso cuidando dos interesses desse povo, parece razoável supor que nada mais poderia ser”
(p. 76)
(grifo meu)
De fato, nem o Holocausto, nem as inúmeras guerras em nome da fé perpetradas até hoje pelos homens, nem mesmo o sofrimento mais pungente e aterrador que ainda possa recair sobre todos nós que este mundo habitamos serão uma prova suficiente para que os religiosos deixem de acreditar na existência de Deus (insisto, num Deus que é infinitamente benevolente e todo-poderoso). Aliás, Deus só pode ser pensado com esses predicados; se lhos retiramos, ele deixa de ser deus. Quem desejaria a existência de um deus impotente ou mau?
A seção Fé e loucura está repleta de passagens ironicamente inteligentes. Não há como passar por ela sem alguma forma de perplexidade e prazer intelectual. A seção inicia-se com as seguintes palavras:
“Já vimos que as nossas crenças estão estritamente relacionadas com a estrutura da linguagem e com a aparente estrutura do mundo. Nossa “liberdade de crença”, se é que existe, é mínima. Será que uma pessoa é realmente livre para acreditar em uma afirmação para a qual não há provas? Não. A prova (seja lógica ou sensorial) é a única coisa que indica que uma dada crença ou convicção realmente se refere ao mundo. Nós temos nomes para definir pessoas que têm muitas convicções para as quais não há justificativa racional. Se essas convicções forem extremamente comuns, chamamos essas pessoas de “religiosas”; caso contrário, provavelmente serão chamadas de “loucas”, “psicóticas” ou “dementes”. A maioria das pessoas de fé é perfeitamente sã, é claro, mesmo as que cometem atrocidades por conta de suas crenças. Mas qual é a diferença entre um homem que acredita que Deus vai recompensá-lo com 72 virgens se ele matar um punhado de adolescentes judeus e outro que acredita que criaturas da estrela Alfa Centauri estão lhe enviado mensagens para a paz mundial através de seu secador de cabelo? Existe uma diferença, é óbvio, mas essa diferença não coloca a fé religiosa sob uma óptica lisonjeira”
(p. 82)
O parágrafo que se segue lança luzes sobre a argumentação do autor, no tocante à relação entre loucura e religião:
“Apenas certos tipos de pessoas acreditam no que ninguém acredita. Se alguém é governado por ideias para as quais não há provas (e que, portanto, não podem ser justificadas numa conversa com outros seres humanos), isso em geral indica que há algo de gravemente errado na sua mente. Sem dúvida, há sanidade nos grandes números. No entanto, é mero acidente histórico o fato de que se considere normal na nossa sociedade acreditar que o Criador do universo escuta os seus pensamentos, mas acreditar que Ele se comunica com você por meio de pingos de chuva em código Morse batendo na janela do seu quarto é uma demonstração de doença mental. Por isso, embora as pessoas religiosas não sejam, em geral, loucas, suas crenças fundamentais certamente o são. Isso não surpreende, uma vez que a maioria das religiões meramente canonizou algumas manifestações de ignorância e loucura ancestrais e as passou para nós como se fossem verdades primordiais. Isso faz com que bilhões acreditem no que nenhuma pessoa sã poderia acreditar por conta própria. Na verdade, é difícil imaginar um conjunto de crenças mais indicativo de doença mental do que o que se encontra no cerne de nossas tradições religiosas”
(pp. 82-83)
(grifo meu)
Aqui, em minha rua, passa, às vezes, um homem que sofre de algum tipo de enfermidade mental. Ele não representa ameaça alguma aos transeuntes e gosta, especialmente, de falar às mulheres paradas no ponto de ônibus, prometendo-lhes casa, carinho e conforto, caso venha a ganhar na loteria. Recentemente, presenciei esse caso. A mulher, ao ouvir isso, sorriu, sem jeito. Ela, provavelmente, deve ter entendido que ele era “maluco”. Mas, se por acaso, ele lhe dissesse que Deus iria abençoá-la com milhões de reais – talvez, ela sussurrasse para si: amém! e concluísse, felizmente, “ele é maluco, mas sabe o que fala”.
É interessante notar que se alguém que crê em Deus disser a outro crente que ouviu a voz de Deus, certamente, essa pessoa seria considerada “louca”. É que a loucura, nesse caso, deve ser convencional, ou seja, compartilhada na forma de cânones por uma dada comunidade cultural. Todos os que crêem devem participar da loucura e talvez a único acordo que se pode ter, no domínio da religião, é que Deus, definitivamente, não tem voz (nem corpo, nem cheiro...).
Referindo-se ao dogma da Eucaristia, na Igreja Católica, (o autor cita um trecho da Profissão de fé da Igreja Católica) escreve o autor:
“Jesus Cristo – que, aliás, nasceu de uma virgem, enganou a morte e subiu aos céus corporalmente – agora pode ser comido sob a forma de uma bolacha. Depois de algumas palavras em latim faladas sobre uma taça do seu borgonha favorito, você também pode beber o sangue dele. Há alguma dúvida de que, se existisse apenas um solitário adepto dessas crenças, ele seria considerado maluco? Mais ainda, existe alguma dúvida de que ele seria maluco? O perigo da fé religiosa é permitir que seres humanos normais possam colher esses frutos da loucura e ainda considerá-los sagrados. E, já que cada nova geração de crianças continua aprendendo que as afirmações religiosas não precisam ser justificadas como todas as outras, a civilização continua sitiada pelos exércitos do absurdo. Nós estamos, neste momento, matando uns aos outros por causa de literatura antiga. Quem teria imaginado que algo tão tragicamente absurdo seria possível?
(p. 83)
(grifo meu)
Finalmente, o que nos tem a dizer o autor sobre a moderação religiosa? Decerto, muita coisa; no entanto, cinjo-me a referir um trecho que ilustra, sinteticamente, sua posição nesse tocante:
“O problema que a moderação religiosa apresenta para todos nós é que ela não permite que se diga nada de muito crítico acerca do literalismo religioso. Não podemos dizer que os fundamentalistas são malucos, pois estão simplesmente praticando a sua liberdade de religião, não podemos sequer dizer que eles estão enganados em termos religiosos, já que o conhecimento que eles têm sobre as Escrituras em geral é igualável. Tudo que podemos dizer, como moderados religiosos, é que não gostamos do custo, em termos pessoais e sociais, que a adoção plena das Escrituras nos impõe (...) A moderação religiosa é produto do conhecimento secular e da ignorância escritural – e ela não tem nenhum respaldo, em termos religiosos, para ser colocada lado a lado com o fundamentalismo. Os textos em si são inequívocos: são perfeitos em todas as suas partes. À luz desses textos, a moderação religiosa parece apenas uma falta de vontade de submeter-se plenamente à lei divina. Ao deixar de viver segundo a letra desses textos, e ao mesmo tempo tolerar a irracionalidade dos que assim vivem, os moderados traem igualmente a fé e a razão (...)”
(p. 21)
(ênfase no original)
Não custa lembrar a importância do discurso ateísta para a formação de indivíduos autônomos e críticos intelectualmente: o ateu ousa pronunciar – religião se discute sim! As crenças religiosas não têm nada de especial para serem resguardadas de avaliações racionalmente orientadas para desnudar-lhes a inconsistência e incoerência. As crenças religiosas soam no vácuo completo, porque só servem ao desejo e à imaginação.


