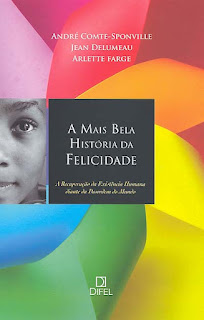O paradoxo da felicidade
Ainda é viva em mim
a lembrança das aulas em que eu pude estimular meus alunos ao debate sobre a
leitura de textos. Nessas ocasiões, regozijava-me! De certo modo, reexperiencio
essa grande satisfação, sempre que componho meus textos e os divulgo aqui neste
espaço.
Meu
intento – como de costume – é convidar o leitor que me acompanha a ler mais – e
a ler o livro A Mais Bela História da
Felicidade: a recuperação da
existência humana diante da desordem do mundo (2010), que reúne André
Comte-Sponville, filósofo, Jean Delumeau, especialista em história das
mentalidades religiosas e Arlette Farge, historiadora especializada no século
XVIII. O livro se estrutura em entrevistas feitas aos estudiosos. Eu vou-me
ocupar com a exposição da terceira parte da entrevista a André Comte-Sponville,
intitulada de O paradoxo dos filósofos.
O tema de todas as entrevistas é a felicidade. Sponville irá considerá-la na
história da filosofia, desde os gregos até os modernos. A terceira parte é
dedicada à reflexão sobre como o homem comum pode ser feliz e sobre o papel que
a filosofia desempenha na experiência de felicidade.
Já tive
a oportunidade de escrever sobre a felicidade, ocasião em que sustentei a tese
de que a felicidade não pode limitar-se ao acúmulo de riqueza, tampouco pode
ser pensada sem que consideremos a satisfação de condições básicas de
sobrevivência. Não me limitarei a apresentar os argumentos do autor;
esforçar-me-ei por me posicionar em face de sua argumentação, o que implica nem
sempre estar de acordo com ele. Urge, contudo, dialogar com o autor, entender a
perspectiva com que ele trata do tema. Lembro que Sponville é ateu, de modo
que, como veremos, falar em ‘sentido da vida’ só faz realmente sentido quando
abandonamos a ideia de transcendência e nos situamos no âmbito da imanência.
Para ele, o sentido da vida é viver a vida. Em tempo, teremos a oportunidade de
compreender melhor sua posição, nesse tocante. Mas o leitor, se for cristão,
poderá estar certo de que o autor não faz ataque à religião, apenas sua compreensão
do sentido da vida é que diverge da compreensão religiosa. De resto, a mensagem
de Sponville é a do amor – do amor à vida mesma, à verdade e ao saber.
1. A ausência de
infelicidade
A tese
de Sponville é a seguinte: viver a vida
na esperança de ser feliz é uma forma de ser infeliz. Segundo o autor, para
encontrar a felicidade, não precisamos procurar por ela. A experiência de ser
feliz não depende da satisfação de todos os nossos desejos, já que eles são
“indefinidos, flutuantes e sempre renovados” (p. 56). A insaciabilidade do
desejo impede-nos de alcançar a felicidade. Se entendemos, com Platão, que
desejo é falta e que, portanto, desejamos aquilo que não temos,
experienciaremos o vazio, a frustração. Nem todo desejo é falta, entretanto.
“(...) desejar aquele ou aquela que
existe, que se entrega e com quem fazemos amor, é experimentar a presença, a
força natural, a plenitude”.
(p. 66)
O que
entende o autor por felicidade? Num primeiro momento, pensa a felicidade como
ausência de infelicidade. Nós buscamos afastar a infelicidade. Freud nos
ensinava que nós buscamos incessantemente o prazer e desejamos permanecer nele.
No entanto, a própria cultura impede-nos que experienciemos esse estado por
muito tempo. Mas não só ela: “nossas possibilidades de felicidade já são
limitadas pela nossa constituição” (Freud – O
mal-estar na cultura, p. 63). Consciente de que a definição de felicidade
apresentada é ainda insuficiente para compreender essa experiência, o autor
reconhece que ser feliz não implica a ausência de inquietudes, de preocupações.
É possível experienciar uma felicidade ordinária, episódica, apesar da aridez
da vida. Não convém, segundo o autor, querer entender a felicidade como uma
alegria perene, porque a alegria é movimento, é flutuante.
Sabemos
– e Sponville também o reconhece – que a felicidade não está sempre presente,
mas ele acredita que a alegria é sempre possível. A felicidade está na
realidade, em potência.
“Se a felicidade existe quando não
se é infeliz, ela também existe, sobretudo, quando a alegria parece
imediatamente possível, e a fortiori,
real. A felicidade não está sempre presente, ela vai e vem, mas não existe nada
insuperável que nos separe dela (...)”.
(p. 58)
A
definição de felicidade proposta por Sponville é bastante modesta. O autor
entende que, se pretendemos que todos os nossos desejos sejam plenamente
satisfeitos, para sermos felizes, então nunca conseguiremos sê-lo. A felicidade
não é algo absoluto – e estou de acordo. Para ele, trata-se de “uma modalidade
da existência, com altos e baixos” (p. 59). Não ser infeliz já é razão para
sermos mais ou menos felizes.
“Uma das coisas que a vida me
ensinou, e que, apesar de tudo, me propiciou uma forma de sabedoria, foi o
seguinte: ser quase feliz já é uma
felicidade”.
(p. 59)
(grifo no original)
Retomemos
Freud, em O mal-estar na cultura.
Nesse trabalho, Freud defenderá que, ao invés de viabilizar a fruição do prazer
– sempre perseguido pelos seres humanos – a cultura, por eles criada, tende
sempre a frustrá-los, decepcioná-los, afastando-os de seu objetivo. Os
obstáculos para a experiência da felicidade são, segundo o autor de O Mal-estar na cultura, maiores. Ser
feliz, para Freud, é experienciar intensas sensações de prazer, experiência
esta inatingível aos seres humanos, no atual estágio da cultura. Neste trecho,
Freud indaga-se sobre qual seria o propósito da vida das pessoas, e ele não
hesita em responder ser a felicidade. Sponville – me parece – não concordaria
com Freud, se entendemos por propósito a ideia de ‘sentido da vida’:
“(...) o que os próprios seres
humanos, através de seu comportamento, revelam ser a finalidade e o propósito
de suas vidas? O que exigem da vida, o que nela querem alcançar? É difícil
errar a resposta: eles aspiram à felicidade, querem se tornar felizes e assim
permanecer. Essa aspiração tem dois lados, uma meta positiva e outra negativa:
por um lado, a ausência de dor e desprazer; por outro, a vivência de sensações
intensas de prazer. Em seu sentido literal mais estrito, “felicidade” refere-se
apenas à segunda”.
(p. 62)
De
fato, Sponville está de acordo com Freud, no tocante ao fato de os homens
aspirarem à felicidade e de desejarem permanecer nessa condição por longo
tempo. Ambos também concordam que tal caso não é possível, porque a felicidade
plena é um ideal. Para o pai da psicanálise, a própria forma como a cultura se
organiza – essencialmente repressora – impede a fruição permanente do prazer
(felicidade). Também para Freud a impossibilidade de experienciar uma felicidade
duradoura se deve ao modo como a psique humana se estrutura. Entanto, ao
contrário de Freud, Sponville já considera o afastamento do desprazer uma forma
de felicidade. A pessoa que não sofre, que não experimenta dor e infelicidade
já deve considerar-se uma pessoa feliz. Lembro que a quase felicidade é já
felicidade, para o filósofo francês.
Sponville
também não parece estar de acordo com Freud ao supor que o propósito da vida
humana seja a felicidade. Se entendermos por propósito da vida a ideia de
‘sentido da vida’, certamente, Sponville não comunga da perspectiva freudiana.
Veremos, mais adiante, o porquê. Claro
está que, se tomarmos por objetivo da vida ser apenas felizes, se acreditarmos
que, sem a felicidade, a vida não faz sentido, muito frustrante será viver, já
que a felicidade não é perene e nosso desejo é caracterizado pela
insaciabilidade (sempre renovado, dirá Sponville).
A
concepção de felicidade de Sponville difere da concepção freudiana. Isso é bem
claro. Para o primeiro, a felicidade é um estado de alegria sempre passível de
ser experimentado nas circunstâncias comuns da vida; ela pode ser uma
experiência débil, difusa. Para Freud, ao contrário felicidade é “vivência de
sensações intensas de prazer”. Só há felicidade onde há intenso prazer. Só há
felicidade onde há profunda sensação de bem-estar. Como a cultura nos impede de
experienciar esse profundo bem-estar (a felicidade), só nos resta a sublimação,
ou seja, recorrer a outras formas de experienciar algum grau de felicidade
(como a alegria experimentada pelo artista em sua atividade). É que, para
Freud, a intensidade do prazer se aufere na satisfação de nossos instintos mais
grosseiros (p. 69).
2. O sentido da vida
Ao ser
perguntado sobre o sentido da vida, Sponville é bastante claro: a questão do sentido da vida não se coloca
no momento em que a felicidade está presente. De fato, não nos preocupamos
com o sentido da existência quando estamos envolvidos em sensações de
felicidade.
“(...) nossos momentos de felicidade
intensa (em que a alegria não é apenas possível, mas real, deslumbrante,
espantosa) são aqueles nos quais a questão do sentido da vida não se coloca.
Por que teríamos descoberto ou alcançado esse sentido? Por motivo nenhum, simplesmente porque aqui e agora a vida é suficiente
para nos completar”.
(p.60)
O
trecho em negrito é indispensável para a correta compreensão da posição do
autor. Sponville, em nenhum momento, dissocia a felicidade da vida real; não a
projeta para um além-morte, para outra vida. Mas, convém, por ora, nos deter no
significado da palavra “sentido”. Para tanto, é necessário falar um pouco sobre
semiologia. Sponville acredita que a palavra sentido encerra uma noção difícil,
porque inclui tanto a ideia de “significado de uma frase” quanto a ideia de
“direção ou propósito”. Nas duas acepções, segundo o autor, o sentido remete a
alguma coisa que não ele mesmo. Isso fica claro quando pensamos na natureza de
todo signo. O signo é signo de outra coisa, um signo está no lugar de outra
coisa. Assim, ao nos depararmos com uma placa em que se avisa sobre um acidente
a duzentos metros, essa sinal (signo) está “no lugar da coisa” (acidente) a que
ele remete. Graças às palavras, que são signos lingüísticos, podemos falar de
coisas que não estão presentes em nosso campo observacional. Não é necessário
que haja diante de mim uma baleia para que eu fale dela. A palavra “baleia”
evoca em minha mente a imagem desse animal (o seu significante). O sentido da
palavra “baleia” não é a palavra “baleia”, mas a representação mental desse mamífero que vive no mar. O sentido é,
pois, “outra coisa”. Falar em sentido é falar de algo que está fora de nós.
Escreverá Sponville “o sentido encontra-se sempre fora e nós estamos sempre
aqui” (p. 60). É interessante pensar no emprego do advérbio “aqui”, que é dêitico
e que, portanto, em um de seus usos, refere-se ao “lugar onde se acha o falante”.
É claro que a palavra “aqui”, nesse caso, não tem como escopo o lugar onde
estava o autor. Ela se refere ao “estar no mundo”, à existência mesma. Por
isso, é forçoso concluir:
“O sentido da vida só pode ser uma
outra vida (esse é o sentido que as religiões oferecem) ou uma vida diferente
(a que se espera)”.
(p. 61)
Para o
filósofo, a experiência de felicidade depende de que o objetivo de viver seja a
própria vida, depende de que aceitemos a vida, com suas inconstâncias, com seus
bons e maus momentos. Não seremos felizes, se nosso objetivo é outro que não a
vida real. Citarei a seguir um trecho que torna a argumentação do autor um
pouco confusa. Senão, vejamos:
“Os que são felizes não precisam
procurar outra coisa além de sua própria vida tal como ela é, como ela passa,
como se inventa e se transforma por si mesma a cada instante. Essa é a razão
pela qual a experiência de felicidade não é uma experiência do sentido; ela é uma
experiência do presente, da realidade, da verdade atualmente disponível”.
(p. 61)
Que
fique bem claro. Para Sponville, o mais feliz dos homens é aquele que
experiência a felicidade do momento. Projetar a felicidade para o futuro é
também viver o vazio, a frustração, a falta, já que o futuro é o não-ser, não
existe. Para o filósofo, “o objetivo de viver é viver”.
Certamente,
se estamos felizes, estamos reconciliados com a vida e não precisamos nos
apoiar na ilusão de serem felizes em outra vida. Para os que estão felizes, a
vida é bastante. Todavia, sucede que, para Sponville, a felicidade depende de
que estejamos conciliados com a própria vida, mesmo sabendo que ela está
repleta também de dor e infelicidade.
E o que dizer dos que não estão felizes? Como podem eles se satisfazer apenas
com a vida? Como podem eles se regozijar dela?
Nem
sempre a vida é suficiente, dirá o autor. Por isso, a necessidade da filosofia.
Consoante o autor, há os que não precisam da filosofia, porque parecem possuir
uma “sabedoria espontânea”. Tanto melhor, dirá. Mas há os que dela necessitam,
porque “sem ela são incapazes de amar a vida tal como ela é”. A filosofia não é
tão-só experiência de pensamento, mas também, mormente, experiência do bem
viver. Ela nos ensina a viver mais e melhor. Ela nos ensina a enfrentar o
sofrimento, porque é preciso aceitar a vida tal como ela é, mas também é preciso
enfrentar as suas adversidades.
A
função da filosofia é nos ensinar a viver, apesar do paradoxo diante do qual a busca
sempre urgente pela felicidade nos coloca:
“(...) somente aquele que deixou de
buscar a felicidade pode ser feliz, somente aquele que ama a vida mais que a
felicidade pode ser feliz”.
(p. 63)
No
limiar do texto, disse que Sponville iria nos comunicar uma mensagem de amor.
Ele a anuncia ao nos ensinar que devemos amar a vida mais do que a felicidade,
e amá-la com seus reversos. A filosofia nos ensinará a regozijar-nos. O
indivíduo que ama a felicidade não a alcançará, porque a vida se encarregará de
evitar que ele a encontre. Assim, ensinará o filósofo:
“Trata-se de passar da esperança da felicidade ao amor pela vida, mesmo
que nem sempre seja possível amá-la. E por que ela não seria amada? Não é o
valor da vida que justifica o amor que lhe dedicamos; ao contrário, é o amor
que lhe dedicamos que atribui valor à vida”.
(p. 63)
A lição
de Spinoza é lembrada pelo filósofo: não
é porque uma coisa é boa que a desejamos, é porque a desejamos que ela é boa. Logo,
não devemos amar a vida por causa do seu valor, já que o valor advém do amor à
vida. É porque a amamos que ela tem valor. O valor não está na vida em si, nem
nas coisas. Quando o desejo se inclina a uma coisa, essa coisa passa a ter
valor. O amor valoriza: “o amor não se submete ao valor do seu objeto: o amor é
o criador do valor” (p. 63). Por isso, os valores que criamos depende da
intensidade com que amamos. A verdade é um valor, porque a amamos; a
honestidade é um valor, porque a amamos; a fidelidade é um valor, se a amamos.
O amor é o fundador de todos os valores.
Mas
volvemos à citação acima. Abandonar a esperança de felicidade, mas também a
esperança como atitude diante da vida. É o que aprendi com Sponville. A
esperança nos conforma na espera e nos imobiliza na experiência da ausência. Não
se deve ter esperança de um dia ser feliz; é possível ser feliz no presente.
Nisso estou de acordo com Sponville. Isso não significa que o presente sempre
favorecerá a felicidade.
“Amar verdadeiramente a vida não é
apenas amá-la apenas quando ela é feliz, mas amá-la em sua totalidade, seja ela
constituída de felicidade ou infelicidade, de prazer, sofrimento, tristeza ou
alegria”.
(p. 67)
O amor
à vida é a força de que dispomos também para enfrentá-la. Só podemos enfrentar
as adversidades da vida, se formos capazes de amá-la. O melancólico é aquele que
perdeu a capacidade de amar – ou, ao menos, aquele cuja capacidade de amar se
enfraqueceu. O suicida é aquele que perdeu o amor à vida.
Ao cabo
da contribuição de Sponville, o autor concluirá – o que, para mim, sempre me
pareceu bastante claro – que está no amor a maior fonte de felicidade.
“Como vimos, a alegria real ou
possível é o verdadeiro conteúdo da felicidade. Isso quer dizer que não há
felicidade a não ser no ato de amar. Trata-se, mais uma vez, de nossa
experiência com todas as pessoas”.
(p.68)
Convém
nos acautelar ao concluir que Sponville não nos dá margem a objeções. Parece
que o autor não considera algumas circunstâncias dolorosas da vida real, ao
defender a necessidade de amar a vida como condição para usufruir um pouco de
felicidade. Penso nas crianças em cujos lares elas não conhecem o amor dos
seus. Penso naqueles que nasceram em condições socioeconômicas muito precárias.
Penso na grande quantidade de sofrimento que atinge milhões de pessoas em todo
o mundo. Penso ainda que, apesar disso, uma vez vivo (porque não escolhemos
nascer), podemos escolher viver... E não posso
esquecer a lição de Marcel Conche, em A
análise do amor (1998), ao se referir à felicidade do sábio:
“O homem feliz de
uma felicidade filosófica é o “sábio” – tanto quanto possível. O sábio não tem
problema pessoal ou, pelo menos, tem força para enfrentá-los. Com isso, é tanto
mais sensível aos problemas alheios. Falei do “privilégio da insensibilidade”
do homem comum. O sábio, ao contrário, é tanto mais sensível aos problemas dos
outros quanto menos se absorve com os seus. (...) Sua felicidade é um fato. Mas
a felicidade não impede que possamos sofrer, como tampouco o sofrimento impede
que possamos ser felizes. (...) Felicidade porque não se tem medo nem desejo,
porque se está em paz consigo mesmo, em regra com a consciência de seu destino
(entendo que sempre temos vivido na inteligência de si e na fidelidade a si),
mas também tristeza porque o mundo é triste e não há o que fazer a esse
respeito. Felicidade da potência sobre si, tristeza da impotência sobre o
mundo”.
(p. 67)
Também Sponville nos fala da potência de gozar a vida cada vez
mais. Também estou de acordo com Sponville no tocante ao fato de a felicidade
ser, afinal de contas, apenas uma ideia. Existindo a palavra, precisamos nos
valer dela. O problema, me parece, é quando enchemos a palavra felicidade de desejo, é quando
insuflamos seu significado a tal ponto que ele nos parece difuso, pesado,
inapreensível.
O que é a felicidade senão uma emoção de alegria, de satisfação?
E o que é uma emoção, senão um padrão de reação, que nos impulsiona à
experiência com o significado? Toda emoção envolve sentimentos, mas deles se
diferencia por manter uma relação implícita ou explícita com o mundo. A emoção
nos move, nos afeta o comportamento, tanto nos faz agir quanto nos faz
estancar.
Uma pessoa pode sentir-se feliz, ao obter um emprego, ao ser
promovida no trabalho, ou ao alcançar o corpo desejado (muito embora, nesses
casos, o padrão de beleza estabelecido socialmente e reforçado pela mídia torna
essa realização sempre inatingível, porque o desejo nunca é satisfeito; e
sabemos que é provocando a insaciabilidade do desejo que o mercado lucra). Não
podemos escapar ao desejo. Não é possível não desejar, mas é possível não se
render a todos os seus apelos. A insaciabilidade do desejo torna-nos infelizes.
Ser feliz ou estar feliz? A felicidade tem a ver com um modo de
estar no mundo, com um modo de agir, apesar do mundo. Sabemos que fazer
atividade física, praticar esportes ter e fazer amigos, etc. torna as pessoas
felizes. A felicidade não é um estado de alma; ela envolve todo o corpo. Por
isso tem a ver com endorfina, dopamina, serotonina, noradrenalina; por isso
também comer (especialmente chocolate, açúcar e lacticíneos), se apaixonar
e fazer sexo nos causa felicidade.
A questão da felicidade é
interminável, como tudo em filosofia... cujas questões nunca se fecham...
apenas a vida tem de findar... enquanto houver vida, há a filosofia e a
possibilidade de pensar em como ser feliz...