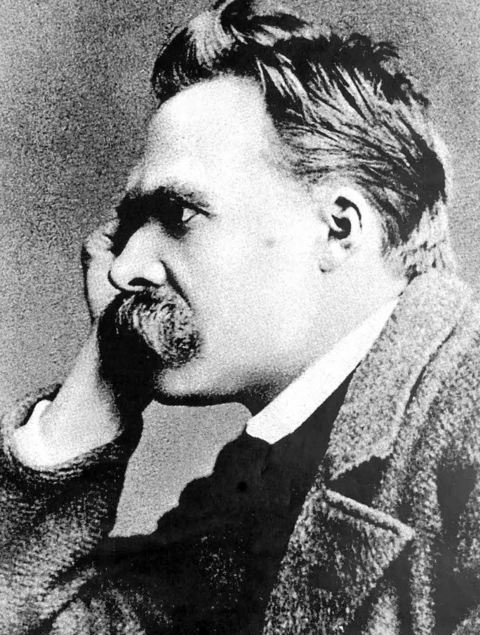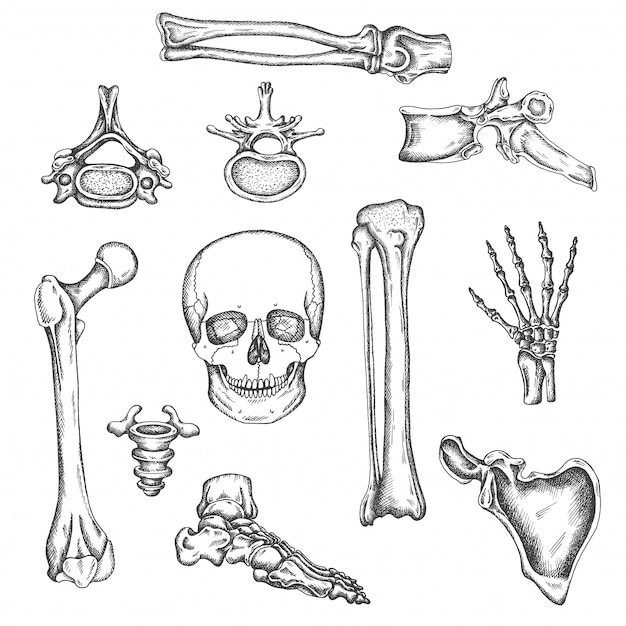

O
meu olhar sobre o incêndio no Museu Nacional
O
que as labaredas nos revelam sobre a condição humana?
O dia 2 de setembro de 2018
será marcado historicamente como o dia em que o Brasil e o mundo viram, com
profundo pesar, um vasto acervo histórico (com mais de 20 milhões de itens) ser
quase completamente consumido pelas chamas de um incêndio por cuja prevenção
nossas autoridades políticas nada fizeram, a despeito dos inúmeros alertas
feitos sobre a necessidade de adoção de medidas que, se não evitassem o
incidente, contribuíssem, ao menos, para diminuir seus danos. Todos os jornais
nacionais e internacionais, ao tratar o incidente como uma tragédia, não
cessaram de sublinhar a ideia de que o incêndio no Museu Nacional representa
uma perda lastimável de um patrimônio
cultural cuja importância é reconhecida por toda a humanidade. Enquanto a
maioria das pessoas, especialistas ou leigos, acompanhando a mídia em suas
avaliações estereotípicas, pelas quais o incidente foi categorizado, por
exemplo, como “uma devastação da história, da ciência, das artes e da memória
brasileira”, reproduz a ideia de que um patrimônio cultural foi destruído,
eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto muito mais profundo e trágico
que a grande maioria das pessoas não soube reconhecer, ao assistir, incrédulas
e pesarosas, às chamas consumindo o Museu. O meu olhar sobre o triste incidente
é um olhar filosófico; é, portanto, uma forma de interpretação cuja elaboração
e densidade ontológica não é imediatamente acessíveis aos não filósofos.
As
pessoas, em geral, ao reproduzirem a ideia de que o incêndio no Museu Nacional
representou a perda de um “patrimônio cultural”, pressupõem, em sua fala, o
seguinte significado de “cultura”: conjunto
de instituições como a arte, a literatura, a música, a dança, a ciência, a
religião, etc. É o que estudiosos como Milton Bennett chamam de cultura objetiva. A cultura objetiva –
também chamada de cultura material –
encerra tudo que é produzido pela atividade humana e que por ela é
transformado. Essa dimensão da cultura é acessível à experiência sensível dos
membros de uma sociedade. Quando as pessoas comuns falam, então, de “patrimônio
cultural”, estão se referindo a essa herança cultural material que é comum a
uma sociedade. Mas cultura também apresenta uma face subjetiva. Nesse caso,
Bennett fala em cultura subjetiva
como o conjunto de crenças, valores, conhecimentos, ideologias; enfim, símbolos
que modelam e informam a vida das pessoas nas relações que estabelecem entre si
em sociedade. Não pretendo levantar um inventário das inúmeras propostas de
conceituação da cultura. Quero apenas frisar que a cultura recobre mais do que
os produtos das atividades artísticas, literárias, científicas, políticas do
homem; ela constitui um grande sistema de atitudes, valores, normas, que
estruturam as experiências do homem. Ela compreende um sistema de símbolos e
significados. É nesse domínio semântico do termo cultura que devemos reconhecer
o papel da linguagem ou do símbolo.
A faculdade da linguagem, ou
seja, a capacidade que os homens têm de usar uma língua constitui a condição de
possibilidade do desenvolvimento da cultura. De fato, a linguagem humana é
produto da cultura, mas, ao mesmo tempo, não existiria cultura se o homem não
fosse capaz de usar a linguagem articulada. Decerto, a cultura é um processo
cumulativo, resultante de toda uma experiência histórica das gerações
anteriores (concepção que é subjacente ao conceito de “patrimônio cultural”).
Mas esse processo cumulativo historicamente constituído não seria possível sem
a linguagem. Todo comportamento humano se origina no uso dos símbolos. Foi
graças à ordem simbólica que os ancestrais antropoides se tornaram homens. Toda
cultura depende, portanto, dos símbolos. É o exercício da faculdade de
simbolização que criou a cultura e foi por meio do uso dos símbolos (palavras) que foi possível sua perpetuação.
Sem a linguagem verbal, não haveria cultura, e o homem seria apenas um
animal.
De modo algum, pretendo dar
a entender que o homem não seja um animal, que não pertença à natureza tanto
quanto os demais animais, ou que seja ontologicamente superior ao animal.
Como todo animal, também o homem deve manter uma relação adaptativa com o meio
ambiente, a fim de sobreviver. Mas, como seja um ser biológico destituído de
instintos, o homem precisa adaptar-se ao meio ambiente adotando outro caminho.
Esse caminho é o da produção da cultura. Geertz sustenta que todos os homens
são geneticamente aptos para receber um programa, o qual se chama cultura. A cultura se desenvolveu
simultaneamente com o equipamento biológico do homem e, por isso, deve ser
compreendida como uma das características da espécie homo sapiens sapiens juntamente do bipedismo e de um adequado
volume cerebral.
Graças à linguagem e à
cultura, o homem pôde se desprender da
ordem natural, tomar distância de si e do mundo para exercitar a reflexão sobre
ela, sobre o mundo e sobre si mesmo. A ordem simbólica é que torna possível ao homem
refletir sobre seu próprio lugar no universo. É claro que, desde que o homem
existe como efeito da emergência da palavra, ele se tornou um ser desnaturado e
iludido sobre sua real condição no Universo. Ora, na medida em que a linguagem permitiu
ao homem a construção de imensos edifícios de representação simbólica que se sobrepõem
e parecem se elevar à ordem natural como gigantescas presenças de um outro
mundo – o mundo do simbólico -, o homem pôde produzir os mais diversos sistemas
de significados historicamente constituídos - entre os quais os mais
importantes são a religião, a filosofia, a arte e a ciência -, a fim de que
encontrasse amparo e sentido numa existência que, se contemplada como um acontecimento puramente
biológico e/ou natural, o levaria, muito provavelmente, à terrificante angústia
e desespero total.
A
emergência da palavra, ou o surgimento da ordem simbólica, rompe a suposta
harmonia entre o homem e a natureza; desfeita essa harmonia, os caminhos pré-formados
se perderam e a adaptação tornou-se inviável. Mas não nos enganemos: a
preexistência de um mundo natural ao surgimento da ordem simbólica é uma
ilusão. Esse mundo natural, essa totalidade ordenada de entes que existem
independentemente do homem, não constituía ainda um mundo (uma totalidade significativamente
ordenada) sem a linguagem.
Quero
enfatizar, tendo em vista o que até aqui expus, que a importância da linguagem
simbólica consiste em tornar possível ao homem uma transcendência, a qual consiste
no desarrancamento do homem das relações imediatas com a natureza e na ascensão
dele a regiões que permaneceriam inacessíveis, caso seu fato de ser no mundo estivesse
circunscrito à experiência cotidiana. Como muito perspicazmente ensina Cassirer
(2012, p. 48):
O homem não pode mais confrontar-se com a realidade imediatamente; não
pode vê-la, por assim dizer, frente a frente. A realidade física parece recuar
em proporção ao avanço da atividade simbólica do homem. Em vez de lidar com as
próprias coisas, o homem está, de certo modo, conversando consigo mesmo.
Um
conceito bastante esclarecedor de cultura nos é apresentado por Roberto
DaMatta. Nele, o autor deixa-nos entrever ser a dimensão simbólica o fundamento
da cultura:
“Cultura é
um conceito-chave para a interpretação da vida social. Cultura é, em
Antropologia Social e Sociologia, um mapa, um receituário, um código, através
do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o
mundo e a si mesmas. É justamente porque compartilham de parcelas importantes
deste código (cultura) que um conjunto de indivíduos, com interesses e
capacidades distintas e até mesmo opostas, transformam-se num grupo e podem viver
juntos sentindo-se parte de uma mesma totalidade. Podem, assim, desenvolver
relações entre si porque a cultura lhe forneceu normas que dizem respeito aos
modos mais (ou menos) apropriados diante de certas situações”.
Iluminada a necessidade de não limitarmos nossa compreensão de cultura ao seu aspecto material, que significado filosófico é possível trazer a
lume a partir da experiência do incêndio no Museu Nacional? Ora, uma das
funções da cultura é proteger o homem contra o terror que adviria da apreensão
psicofisiológica de sua verdadeira condição no mundo. Uma das formas de que se servem os homens em sociedade para se proteger
dessa visão aterradora, pode ser contemplada no espanto de Becker, em seu A
negação da morte (2012, p. 228), com o fato de as pessoas suportarem
fazer o que fazem.
Houve época em que eu ficava imaginando como é que as pessoas aguentavam
trabalhar em torno daqueles infernais fogões em cozinhas de hotéis, o frenético
torvelinho de servir uma dúzia de mesas ao mesmo tempo, a loucura do escritório
de um agente de viagens no auge da temporada de turismo, ou a tortura de
trabalhar o dia inteiro na rua com uma perfuratriz peneumática, num verão
calorento. A resposta é tão simples, que nem a percebemos: a loucura
dessas atividades é exatamente a da condição humana. Elas estão
“certas” para nós, porque a alternativa é o desespero natural. A
loucura diária desses empregos é uma repetida vacina contra a loucura de
hospício. Veja a alegria e a disposição com que os trabalhadores voltam das
férias para suas rotinas compulsivas. Mergulham no seu trabalho com
tranquilidade e alegria, porque o trabalho abafa algo mais sinistro. Os homens
têm que ficar protegidos contra a realidade. Tudo isso levanta outro gigantesco
problema para um marxismo sofisticado, ou seja: qual é a natureza das
obsessivas negações da realidade que uma sociedade utópica irá proporcionar, para
evitar que os homens enlouqueçam. (grifo nosso).
Estando o homem submetido ao
regime da linguagem, do qual ele jamais pode sair, e tendo produzido esse vasto
sistema de símbolos e significados que constitui o “mundo” próprio do homem,
onde sua vida mesma acontece - isto é, a cultura -, é ele mesmo responsável por produzir toda uma
série de crenças ilusórias que o conservam num estado persistente de torpor e autoengano.
Quando, por exemplo, ele se
permite pensar na morte, os sistemas de crença complexos que estão a guiá-lo
nesse exercício nunca o levam a pensar em si mesmo como um excesso de bagagem. O
homem quase nunca, ao se defrontar com a certeza de sua morte, exercita seu
pensamento até o ponto em que se convença de que não é mais do que um simples
instrumento para transmissão do DNA. No entanto, se levasse sua reflexão sobre
a sua própria morte até seus verdadeiros primórdios – a morte das células
individuais -, seria forçado a admitir uma conclusão que, a muitos dos indivíduos
de sua espécie, parecer-lhes-ia sombria e terrificante: cada um dos indivíduos da espécie humana é insignificante na condição de um
organismo participante da totalidade do universo.
Do ponto de vista biológico,
a despeito do que costumamos pensar, a morte não apareceu simultaneamente com a
vida. A morte não é inextricavelmente ligada à definição de vida. As primeiras
formas de vida, conhecidas hoje como bactérias, eram imunes à morte programada.
Assim, os organismos unicelulares são, a rigor, imortais, porque não estão
programados para morrer. Isso se deve ao fato de a morte programada ser
consequência da reprodução sexuada e da pluricelularidade dos organismos. Ao
longo de centenas de milhões de anos na escala evolutiva, o uso do sexo como um
meio de reprodução foi acompanhado, na linha evolutiva que leva aos seres
humanos, pela geração do DNA reprodutivamente irrelevante. O DNA só tem um
único objetivo: reproduzir-se. A insignificância radical do indivíduo foi
literariamente descrita por Schopenhauer e pode ser sumariada na formulação “quando
um indivíduo morre, a natureza em seu conjunto não fica mais doente”. De fato,
somente a sobrevivência da espécie interessa à natureza. Quando nossas células
germinativas conseguem transmitir seu DNA à geração seguinte, nossas células
somáticas e cada um de nós, você e eu, se tornam irrelevantes. Cada um de nós -
eu e você - deixa de ter uma função biológica, por isso nossas células e nós
mesmos devemos morrer para que a mudança possa ser transmitida à geração
seguinte.
Depois
que um número razoável de nossas células germinativas tiveram a oportunidade de
transmitir seu DNA reprodutivo à geração seguinte, o resto de nós e nosso
superestimado eu somático se tornam um excesso de bagagem, uma excrescência que
deve ser eliminada. É esta a origem da senescência
– o envelhecimento gradual e programado das células e dos organismos que elas
compõem, independentemente dos acontecimentos do ambiente. A vida, nessa
perspectiva, não é mais que um sistema autorregulador cujo desenvolvimento se
realiza por meio dos processos de reprodução e de destruição de organismos que,
por sua vez, não são mais do que máquinas de sobrevivência programadas por seus
genes para satisfazer o “interesse” do conjunto desses genes, qual seja, a
perpetuação nas gerações futuras.
Mas
o que tudo isso tem a ver com o significado filosófico que tento iluminar a
partir da consideração do incêndio no Museu Nacional? Esse significado profundo
só vem a lume quando levamos em conta a insignificância radical do homem e de
sua atividade, de sua obra, de seu trabalho, de seus esforços a partir do
domínio de referência do Universo do qual o homem não é mais que um organismo
biológico a cuja sorte esse Universo é completamente indiferente. O patrimônio
cultural que se perdeu, cujo valor é incalculável, só tem importância única e
exclusivamente para o homem. As chamas que consumiram o legado de todo um
trabalho de pesquisa científica, que destruíram todos (ou quase todos) os
registros materiais da existência de tantos outros homens e seres que, num
passado remoto, produziram e se reproduziram em complexas relações com outros
tantos homens e seres na superfície dessa pálido ponto azul chamado Terra
revelam que é somente o homem o único ser vivo ontologicamente capaz de se
preocupar com a preservação da memória de sua existência. Para todo o resto,
digo, para todos os demais seres, para todo o Universo, a vida humana não passa
de uma luz de vela que, tendo sido acesa no curso de terrificantes cataclismos cósmicos,
combustões e processos de aparecimento e desaparecimento de espécies, brilha
por um lapso de tempo breve para ser necessariamente apagada na vasta escuridão
de um Universo desprovido de sentido e de memória.
As
chamas que consumiram o Museu Nacional pareciam querer nos comunicar uma verdade
que insistimos em ignorar (ou que permanece recalcada em nós): somos nós os únicos a reivindicar a nós
mesmos o significado de nossa obra, de nossos rastos, de nossas dores, de
nossas produções, de nossas lutas, de nossos sacrifícios, de nosso trabalho. É
somente quando nos apreendemos como uma parte ínfima do Universo e quando somos
absorvidos no silêncio de sua indiferença e na ausência de sua memória que
podemos mensurar o que significou o incêndio do Museu Nacional. Os políticos
que, seja por negligência, seja por desprezo, não ouviram os apelos daqueles
que clamavam pela preservação do patrimônio cultural que o Museu representava,
participam, mesmo sem o saber, dessa mesma tragédia humana que, vista da
perspectiva do indivíduo imerso na cotidianidade mediana, assume a forma de uma
tragicomédia, que é a vida de cada um de nós, organismos biologicamente sofisticados que anseiam por encontrar
significado, sentido onde a Natureza ou o Universo se representa, aos espíritos argutos, como um bufão que expõe continuamente o ridículo que há no inveterado hábito do autoengano.