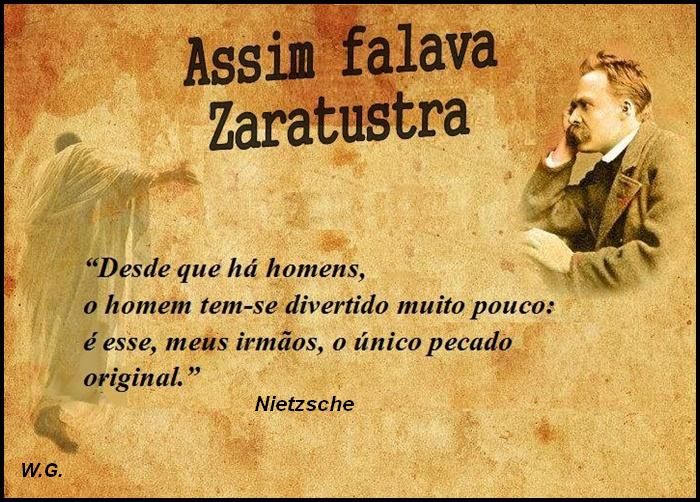Fundamentos teóricos para a formação do leitor à luz da Análise do Discurso
1. Análise do
Discurso e suas rupturas
Em
primeiro lugar, o que se pretende, na confecção deste texto, é lançar luzes
sobre as condições indispensáveis à abertura de um horizonte problematizador da
leitura que permita um contínuo exercício crítico da posição de todos nós,
leitores e estudiosos de textos filosóficos, no momento mesmo em que nos
debruçamos sobre esses textos com vistas a alcançar a compreensão. De resto, uma
enunciação sobre o acontecimento sócio-histórico de produção da leitura está
plenamente justificado, quando levamos em conta que não é possível filosofar
sem produção de discursos e que todo o trato com a filosofia é caracterizado
pela produção e compreensão de textos. No que diz respeito ao contexto
pedagógico em que a lida com textos filosóficos é fundamental para a formação
do estudante de filosofia, temos notado que ainda persiste a crença famigerada
entre professores (com algumas exceções) de que existe um único sentido para o
texto, que é justamente aquele pretendido pelo filósofo que o produziu. De
acordo com essa crença, durante a leitura, caberia ao aluno apreender esse
sentido a fim de que alcance uma compreensão verdadeira do texto. Essa crença
ilusória na existência de um único sentido para um texto tem como correlata a
crença num sentido “correto” ou “verdadeiro” para o texto, o que,
filosoficamente falando, é totalmente inconsistente com os postulados teóricos
da Análise do Discurso. Não só não há um único sentido para um texto como
também não cabe falar em “sentido verdadeiro” como aquele sentido pretendido
pelo autor do texto, quer porque todo
dizer é atravessado por sentidos outros, que remetem a outros tantos dizeres
dos quais o autor do texto em questão sequer está consciente, quer porque não há
uma relação termo-a-termo entre linguagem, pensamento e mundo. Não há uma relação
especular entre a linguagem e o mundo; o discurso não diz o mundo tal como ele é
em si mesmo; mas constrói interativamente uma versão pública (mundo textual) do
mundo.
Em
segundo lugar, todas as elaborações teóricas que darei a conhecer aqui são
indispensáveis à formação do leitor em geral. Espero que este texto seja,
especialmente, proveitoso para os professores de português que, ao se ocuparem
do ensino da leitura, sentem-se incomodados com a persistência com que o
trabalho de leitura em sala de aula fracassa quando o consideramos como o
estágio mais importante para a formação de um leitor crítico. Nossa hipótese
para explicar esse fracasso calca-se no reconhecimento de que toda uma sorte de
noções equivocadas e preconceitos, na medida em que ainda persistem no
imaginário dos atores sociais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem,
acabam por tornar turvo e nebuloso o caminho que os conduziriam à clareza no
tocante ao que significa ser um leitor efetivamente competente.
As
considerações que aqui se seguirão se inscrevem e encontram ressonância teórica
no contexto do que se convencionou chamar Análise do Discurso – termo, aliás,
que, embora correntemente usado no singular, não deve mascarar o fato de que
existem diversas Análises de Discurso, as quais, por sua vez, só tenham talvez
em comum não só o interesse pelos modos de funcionamento do discurso, mas
também uma característica epistemológica importante, a saber, a de ruptura. A
ruptura - marca essencial da constituição da Análise do Discurso - se faz,
basicamente, como um corte epistemológico relativamente a uma teoria
científica, filosófica ou linguística. Pode-se dizer, em suma, que a Análise do
Discurso formula uma teoria da leitura que se institui em ruptura com a análise
de conteúdo, com a filologia (e a hermenêutica), com os modelos formalistas em
linguagem (estruturalismo e gerativismo), com as sociologias da linguagem, com
a psicologia, sobretudo em sua versão cognitivista (que implica uma concepção
de sujeito uno e consciente e que ignora a intervenção do inconsciente na
atividade humana, mormente nas atividades linguísticas) e com a pragmática,
cujo principal problema é supor que o sentido é produto da atualização das
intenções de um falante. Nesse tocante, ao contrário da Pragmática, a Análise
do Discurso não se interessa pelo contexto enquanto cenários
institucionalizados. Ela não está preocupada em dar realce às regras que
governam as relações entre os participantes de uma atividade numa situação de
interação verbal, nem se preocupa com os scripts a serem seguidos por eles a
fim de que sejam bem-sucedidos interacionalmente. Sabe-se que a Pragmática
mantém que os interlocutores conhecem e seguem regras convencionais que
organizam as relações entre eles numa dada situação sócio-interacional. A
Análise do Discurso, por outro lado, não se interessa por tais contextos, por
tais regras que, supostamente, são conhecidas dos participantes de uma
interação verbal. Ela está preocupada com aquilo que justamente escapa ao
conhecimento dos sujeitos quando eles falam: o fato de que cada um enuncia a
partir de posições que são historicamente constituídas (fala-se como deputado de
um partido, de uma frente, de situação ou de oposição, e diz-se o que se deve e
se pode dizer, nessa condição). Assim, para a Análise do Discurso, o que
confere sentido ao que um enunciador diz não é o contexto imediato ou os
implícitos de um enunciado, mas as posições ideológicas a que está submetido e
as relações entre o que diz e o que já foi dito da mesma posição,
considerando-se, em geral, que ela se opõe a uma que lhe seja contrária. O que
é posto em destaque, portanto, é o que se repete, eventualmente durante
décadas.
De
fato, é a maneira como a Análise do Discurso conceberá e problematizará o
sujeito que constitui o ponto fulcral da radicalidade da ruptura que ela
estabelecerá com relação às disciplinas mencionadas.
A
Análise do Discurso surge na França, pelos idos dos anos de 1960. Seu principal
expoente e fundador é Michel Pêcheux. Como seja um campo de estudos
transdisciplinar, a Análise do Discurso se constitui teoricamente em constante
e produtivo diálogo com outros campos do saber, entre os quais se destacam a
Linguística, a Filosofia, a História e a Psicanálise. Quando levamos em conta a
constituição da Análise do Discurso como um domínio teórico polêmico,
dialogicamente entrelaçado com o campo de estudos da linguagem, três
macrocampos de saber se apresentam como partes formadoras do que podemos chamar
de a “coluna vertebral” da Análise do Discurso: o materialismo histórico,
entendido como teoria das formações e transformações sociais; a Linguística,
tomada como a teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação; e
a teoria do discurso, que se ocupa da determinação histórica da produção dos
sentidos. O materialismo histórico, que
constitui o método de interpretação histórica do marxismo, afirma a não
transparência da História. A Psicanálise afirma a não transparência do sujeito.
Finalmente, a Linguística afirma a não transparência da língua. Assim, a
Análise do Discurso trabalha com dois deslocamentos paralelos: o de sentido e
da própria língua em sua relação com a História. A Análise do Discurso trabalha
com três modos de opacidade: a do sujeito, a da língua e a da História. O
sujeito e o sentido se constituem ao mesmo tempo na articulação da língua com a
História, na qual intervêm o imaginário e a ideologia.
Não
cabe, no presente estudo, evidentemente, empreender um levantamento cuidadoso
das consequências teórico-metológicas daquela série de rupturas que entram a
fazer parte da dinâmica de formação da Análise do Discurso. O que pretendo é
lançar alguma luz sobre o modo como a Análise do Discurso elabora uma teoria do
discurso que problematiza tanto o lugar do autor quanto o lugar do leitor, ao
mesmo tempo em que abre um novo campo de reflexões sobre a prática de leitura. Ao
se instituir como campo de conhecimento em total ruptura com outras áreas
epistêmicas que se ocupam da questão do texto e da leitura, a Análise do
Discurso buscará definir os conceitos de texto,
discurso, sujeito e autor, articulando-os a uma teoria da
leitura/interpretação inegavelmente filiada ao trabalho da desconstrução. Esses e outros conceitos serão discutidos ao
longo desta minha exposição. Escusa dizer que o que se seguirá se alinha com a
vertente francesa da Análise do Discurso.
2. A leitura na visão da Análise do
Discurso
A Análise do Discurso toma o texto como unidade constitutiva da
materialidade do discurso. O texto é enfocado em sua discursividade, isto é,
enfocado tendo em vista o modo como ele, em seu funcionamento, produz sentido.
A análise do discurso preocupa-se em compreender como o texto se constitui em
discurso e como o discurso se produz em função das formações discursivas, as
quais, por seu turno, se constituem em função da formação ideológica que as
determina. Todas as formações
discursivas são constituídas de formações ideológicas que
as governam. A formação ideológica constitui um conjunto
complexo de atividades e representações, que não são nem individuais nem
universais, mas que estão ligadas às posições de classes em conflito (Pêcheux
& Fuchs 1990, p. 166. apud. Fernandes, 2013, p. 65). Os
sentidos dependem do modo como as posições de sujeitos se inscrevem nas
formações ideológicas.
O conceito de formação discursiva foi cunhado por
Foucault, em Arqueologia do Saber (1969), para designar o domínio
que, numa dada formação ideológica, a partir de uma posição social numa
conjuntura histórica dada, determina o que se pode e deve-se dizer. É
da formação discursiva que as palavras e os enunciados recebem seus sentidos. A
formação discursiva refere-se ao que se pode dizer somente em determinada época
e espaço social, ao que tem lugar e realização a partir de condições de
produção específicas, historicamente definidas. A formação discursiva permite
explicitar como cada enunciado tem seu lugar e sua regra de aparição, e como as
estratégias que presidem à sua produção derivam de um mesmo jogo de relações;
em suma, como um dizer encontra espaço num determinado lugar e época.
Foucault ensina que a formação discursiva torna possível a descrição,
tendo em vista certo número de enunciados, de um sistema de dispersão. Além
disso, ela permite definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições,
funcionamentos, transformações) relativamente a objetos, tipos de enunciação,
conceitos e escolhas temáticas. Uma formação discursiva não se limita a uma
época apenas. No seu interior, se acham elementos que existiram em diferentes
espaços sociais, e em outros momentos históricos, e que reaparecem sob novas
condições de produção, tornando-se parte constitutiva de um novo contexto
histórico e, consequentemente, possibilitando outros efeitos de sentido.
O texto interessa à Análise do
Discurso somente em função de ser uma parte de um arquivo (corpus). É sumamente importante ter em conta o seguinte: o texto não se confunde com o discurso.
Enquanto o discurso é um acontecimento sócio-histórico, é um processo em
aberto, o texto constitui uma superfície discursiva, uma manifestação aqui e
agora de um processo discursivo específico. O texto é uma peça de linguagem,
“uma peça que representa uma unidade significativa”. (Orlandi, 2007, p. 52). O
texto é, para a Análise do Discurso, um objeto histórico, ou melhor, um objeto
linguístico-histórico, de modo que todo texto é caracterizado por sua historicidade. Embora ele possa ser,
para efeito de análise, considerado como um objeto com começo, meio e fim, não
se pode perder de vista o fato de que todo texto tem relação com outros textos
existentes, possíveis ou imaginários, com suas condições de produção, com sua exterioridade constitutiva
(interdiscurso ou memória discursiva). O texto, portanto, não é o objeto final
da explicação da Análise do Discurso; é tão só a unidade que lhe permite ter
acesso ao discurso. A ordem do discurso se materializa no texto. Segundo
Orlandi (ibid., p. 60-61),
O texto é, para o analista do discurso, o lugar da relação com a
representação física da linguagem: onde ela é som, letra, espaço, dimensão
direcionada, tamanho. É o material bruto. Mas é também espaço significante.
Em suma, como peça de linguagem, como objeto simbólico, o texto é objeto
de interpretação. Mas ele é um momento do processo de discursividade. Nem é o
ponto de partida, nem é o ponto de chegada da análise. O discurso, por seu
turno, não tem origem e não tem unidade definitiva. É sobre o discurso de que o
analista se ocupará: ele estará interessado em examinar o processo discursivo,
que é o que faz o texto significar. Um texto é uma peça de linguagem e, como
tal, é uma peça de um processo discursivo muito mais abrangente; por isso,
quando se chega ao processo discursivo, o texto particular analisado deixa de
ser uma referência específica para dar lugar à compreensão de todo um processo
discursivo do qual o texto em análise e outros tantos desconhecidos são partes.
Mas o que é leitura à luz da Análise do Discurso? Resumidamente, podemos
dizer que ela é um trabalho sócio-histórico que tem de levar em conta a
incompletude da linguagem. Da noção de incompletude deduz-se duas outras:
o implícito e a intertextualidade. Destarte, ler
não é apenas levar em conta o que é dito, mas também, principalmente, o que
está implícito, o que não está dito, mas está significando.
O leitor, assim, precisa compreender que o que não está dito pode estar
sustentando o que está sendo dito; ele precisa ser capaz de apreender o suposto
para entender o que está dito; ele precisa reconhecer aquilo a que o dito se
opõe. Destarte, há relações de sentidos que se estabelecem entre o que um texto
diz e o que ele não diz, mas poderia dizer, e entre o que ele diz e o que
outros textos dizem. Essas relações de sentido evidenciam a intertextualidade.
Saber ler envolve a capacidade de perceber que os sentidos em um texto
não estão necessariamente nele, mas resultam da relação desse texto com outros textos.
Segundo Orlandi (2012, p. 13), “saber ler é saber o que o texto diz e o que ele
não diz, mas o constitui significativamente”. A leitura deve evidenciar o modo
como um objeto simbólico produz sentidos. Isso implica a compreensão de que o
sentido sempre pode ser outro. Portanto, ler não é atribuir sentido, muito
embora o sujeito, em face de um objeto simbólico, seja sempre instado a
interpretar, a “dar” sentido. Sucede, contudo, que, ao falar ou escrever, o
sujeito atribui sentido às suas próprias palavras em condições sócio-históricas
específicas. Um dos efeitos da ideologia é assegurar a crença de que o sentido
já está dado nas palavras – e não na inscrição das palavras em formações
discursivas. É a própria historicidade dos sentidos e as condições de sua
produção que se apagam, fazendo desaparecer a exterioridade que os constitui.
O sentido é produzido na relação do histórico (memória discursiva) com o
simbólico, e a leitura deve evidenciar a materialidade linguística e histórica
do sentido. Os sentidos são partes de um processo; realizam-se num contexto,
embora não sejam limitados a ele. Eles têm uma historicidade, têm um passado e
se projetam num futuro. Os sentidos são muitos – é verdade -, mas há sempre um
sentido enunciável, legível, a partir do qual se produz um gesto de
interpretação.
O termo gesto de interpretação
constitui um termo técnico cunhado pela linguista e analista do discurso Eni P.
Orlandi para designar o fato de que toda interpretação é um ato simbólico
caracterizado pela inscrição do sujeito (e de seu dizer) em uma posição
ideológica, que delimita uma região particular no interdiscurso, na memória do
dizer. Acrescente-se que ideologia, nesse contexto teórico, não é ocultamento
do real, mas um mecanismo de produção de uma interpretação necessária que
atribui sentidos fixos às palavras. Por isso, o mecanismo ideológico não
envolve uma falta, mas um excesso (Orlandi, 2007, p. 66). A ideologia é
responsável pelo efeito de evidência do sentido. Por isso “(...) a evidência,
em linguagem, é construção da ideologia. É a ideologia que passa por evidente
aquilo que é objeto de interpretação: ou seja, só é assim, para aquele sujeito,
naquela situação, com aquela memória, tomado pelos efeitos do imaginário que o
convoca”. (ibid., p. 150).
2.1. Leitura e interpretação
Para a Análise do Discurso, interpretar não é
atribuir sentido, mas expor-se, na lida com o texto, à opacidade da linguagem e
do texto, ou melhor, é “explicitar o modo como um objeto simbólico produz
sentidos, o que resulta em saber que o sentido sempre pode ser outro” (Orlandi,
2007, p. 64). Ler é, portanto, saber que o sentido sempre pode ser outro. Não
há sentido sem interpretação. E o sujeito é sempre sujeito da interpretação e
sujeito (estar assujeitado) à interpretação.
Orlandi distingue, entretanto, entre leitura e
interpretação. Para a autora, a interpretação é uma noção mais ampla. A
leitura, por sua vez, é função da interpretação. Os gestos de interpretação são
constitutivos tanto da leitura quanto da produção do sujeito falante, já que,
quando fala, o sujeito também interpreta. Para dizer, ele tem de inscrever-se
no interdiscurso, tem de filiar-se a um saber discursivo (memória discursiva).
Em vista do exposto, o objetivo do analista é determinar que gestos de interpretação
estão constituindo os sentidos e os sujeitos em suas posições.
2.2. O sentido, a historicidade do texto e a
exterioridade constitutiva
Os sentidos são produzidos na relação do histórico (memória discursiva)
com o simbólico, e a leitura deve evidenciar a materialidade linguística e
histórica do sentido. Os sentidos são partes de um processo; realizam-se num
contexto, embora não sejam limitados a ele. Eles têm uma historicidade, têm um
passado e se projetam num futuro. Os sentidos são muitos – é verdade -, mas há
sempre um sentido enunciável, legível, a partir do qual se produz um gesto de
interpretação.
O sentido de uma palavra ou expressão equivalente é efeito da substituibilidade
das expressões cujo conjunto produz ou pode produzir um efeito de referência,
isto é, pode produzir a identificação de objetos do mundo a partir de uma
perspectiva que, no entanto, jamais é objetiva. O efeito de sentido nunca é o
significado de uma palavra; mas o sentido de uma família de palavras que se
relacionam entre si metaforicamente. O sentido é, portanto, função de uma dupla
de significante/palavra em relação mútua de substituibilidade, mas apenas em
cada discurso historicamente dado. Quando considerado no nível do enunciado, o
sentido obedece ao mesmo princípio de substituibilidade: o sentido de um
enunciado decorre de sua substituibilidade por enunciados equivalentes na mesma
formação discursiva. As palavras não
tem sentido em si mesmas; seus sentidos derivam das formações discursivas em
que elas figuram. A produção de sentido está intimamente ligada à relação
parafrástica entre sequências tais, que a família parafrástica dessas
sequências constitui uma matriz do sentido. Assim, dado um enunciado como O Brasil precisa voltar a crescer, seu
sentido está ligado à relação parafrástica que esse enunciado estabelece com
outros equivalentes como O Brasil precisa
voltar a gerar renda, O Brasil
precisa voltar a gerar empregos, etc.
Creio estar suficientemente claro que, na Análise
do Discurso, o discurso não se identifica com a fala, nem com a língua. O
discurso, tal como definido pela Análise do Discurso, é um
acontecimento sócio-histórico; é, segundo Orlandi (2007), efeito de
sentidos entre interlocutores. Tanto o locutor quanto o
interlocutor, participantes da atividade discursiva, estão sempre afetados pelo
simbólico. Aqueles efeitos de sentidos são consequência das relações entre
sujeitos simbólicos que participam do discurso, em condições sócio-históricas
dadas. Os efeitos de sentidos se realizam como consequência do fato de esses
sujeitos serem situados sócio-historicamente e de serem afetados pelas
suas memórias discursivas, as quais, por sua vez, são memórias
sociais. As memórias discursivas fundam um espaço que se apresenta como
condição de possibilidade do funcionamento do discurso. Esse espaço constitui
um corpo sócio-histórico-cultural. (Fernandes, 2007, p. 59-60). O conceito
de memória discursiva será definido quando eu me debruçar
sobre o conceito de interdiscurso. Desde já, noto que memória
discursiva e interdiscurso são conceitos correlatos,
sinônimos.
A língua não é meramente um código
entre outros. Não há separação entre emissor e receptor, como postula uma
clássica Teoria da Comunicação. Tampouco a língua é mero instrumento de
comunicação. Ao usarmos a língua, não só comunicamos, como também não
comunicamos. A língua é, fundamentalmente, uma prática social, e os
participantes dessa prática social atuam interacionalmente na produção de
significados. O que eles fazem, quando envolvidos nas práticas linguísticas, é
produzir discurso. Portanto, o funcionamento da linguagem põe em relação
sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela História, num complexo processo
de constituição desses sujeitos e de produção de sentidos.
O texto é caracterizado por sua historicidade.
Falar em historicidade do texto é apreender seu acontecimento
como discurso, seu funcionamento, o trabalho de sentidos que ocorre nele.
Trata-se de pensar a temporalidade interna do texto, ou seja, sua relação com
a exterioridade constitutiva, segundo o modo como ela se inscreve
no texto. Essa exterioridade não é a exterioridade histórica da qual o texto é
um produto; essa exterioridade determina o texto internamente. Não é algo que
está lá fora e que se reflete no texto. Não se vai da História (acontecimentos,
eventos) para analisar o texto, mas se parte do texto enquanto materialidade
histórica, com suas marcas. Destarte, compreender a materialidade do texto
é compreender como a matéria textual (historicidade do texto) produz sentidos.
Não se está negando que há uma relação entre a
História fora do texto e a historicidade do texto, que é a trama de sentidos
nele, mas essa relação não é direta, nem imediata, nem de causa e efeito. Essa
relação é complexa e demanda, a fim de que possa ser explorada, a compreensão
do funcionamento do texto.
2.3. A história de
leituras do leitor e a história de leituras do texto
Segundo Orlandi (2008, p. 42), “em geral, (...) há vários
fenômenos de variação que podem estar contidos na afirmação de que a leitura
tem uma história”. Ainda segundo a autora, “(...) há leituras previstas para um
texto, embora essa previsão não seja absoluta, uma vez que sempre são possíveis
novas leituras dele”. (ibid.). Orlandi refere-se a dois entre os elementos que
podem determinar a previsibilidade das leituras de um texto:
1) Os sentidos têm a
sua história, isto é, há sedimentação de sentidos, segundo as condições de
produção da linguagem;
2) um texto tem relação com outros textos.
A consequência mais importante que se pode
depreender de 1) é que as leituras já feitas de um texto “dirigem, isto é,
podem alargar ou restringir a compreensão de texto de um dado leitor”. (ibid.,
p. 43). A previsibilidade da história da leitura é recoberta pelas leituras
historicamente produzidas para um texto e repertório de leituras de
sujeito-leitor sócio-historicamente situado.
Mas é também a história ou o contexto
sócio-histórico que, se, por um lado, responde pela previsibilidade de
sentidos, por outro lado, constitui o próprio horizonte de pluralidade de
leituras possível. O histórico é marcado, portanto, por essa ambiguidade:
“porque é histórico, muda, porque é histórico, permanece. (ibid., p. 46). Se há
uma relação dinâmica entre as leituras previstas para um texto – domínio de
relativa coerção sobre o leitor - e as novas leituras possíveis, como fixar o
limite, inegavelmente difícil, entre “aquilo que o leitor não chegou a
compreender, o mínimo que se espera que seja compreendido (limite mínimo) e
aquilo que ele atribui indevidamente ao texto, ou seja, aquilo que já
ultrapassa o que se pode compreender (limite máximo)”? (ibid.).
O que está em questão aqui é a determinação do
limite entre uma leitura parafrástica, a saber, aquela que se caracteriza pela
reprodução do sentido dado pelo autor e uma leitura polissêmica, a qual se
define como produção de múltiplos sentidos para o texto. O critério adotado por
Orlandi consiste “na observação da história” (ibid., p. 44), ou seja, na
observação da relação da leitura com as suas histórias: a história de leituras
do leitor e a história de leituras sedimentadas de um texto. Assim, “uma
leitura não é possível e/ou razoável em si mas em relação as suas histórias”.(ibid.).
A consequência teórica que se segue daí é, segundo Orlandi (ibid., p.45), a
polissemia, “ou seja, [o fato] de ser próprio da natureza da linguagem a
possibilidade da multiplicidade de sentidos”.
2.4. O Sujeito em Análise do Discurso
Desde já, é necessário rechaçar um possível equívoco: o sujeito
de que trata a Análise do Discurso não é o sujeito cartesiano, ou seja, como
uma consciência unitária e transparente a si mesma, e suposta como existente
independentemente do corpo. Esse sujeito cartesiano é um “eu” a-histórico,
senhor de si, cuja existência é postulado pelo pensamento. O sujeito
de que trata a Análise do Discurso é um sujeito sócio-histórico.
Este sujeito não se confunde nem com o autor nem com o indivíduo empírico que
produz um texto. Trata-se de uma posição-sujeito ou forma-sujeito constituída na relação com o simbólico na
História. O sujeito é discursivo e descentrado (não é a origem do seu dizer),
porquanto afetado pelo real da língua e pelo real da História. Ele não exerce controle
sobre o modo como língua e História o afetam. Por isso, o sujeito funciona pelo
inconsciente e pela ideologia.
Portanto, não há falante, nem locutor, nem emissor para a Análise do
Discurso. Há sujeito, mas o sujeito é clivado, isto é, não é uno; o sujeito é
assujeitado, isto é, não é livre e não está na origem do seu discurso. O
sujeito são sujeitos na história. Não há sujeitos da história. Não há
Sujeito Transcendental, não há Ego Cogito. Segundo Althusser, não há sujeito
que seja livre e constituinte da história. Pêcheux dirá que os sujeitos
acreditam que utilizam os discursos, quando, na verdade, são seus “servos”,
assujeitados, seus “suportes”.
A Análise do Discurso – serei enfático – rompe com a concepção de sujeito uno, livre, caracterizado pela
consciência, ou seja, sem inconsciente, sem ideologia. O sujeito não é a
origem do que diz.
O assujeitamento do sujeito não é quantificável. Ele diz respeito à
natureza da subjetividade, à qualificação do sujeito pela sua relação
constitutiva com o simbólico – se é sujeito pelo assujeitamento à língua, na
história. Não se pode dizer senão na condição de ser afetado pelo simbólico,
pelo sistema significante. Não há nem sentido nem sujeito, se não houver
assujeitamento à língua. Para dizer, o sujeito submete-se à língua. Sem esse
assujeitamento, ele não pode subjetivar-se. Portanto, com Althusser, devemos
dizer que o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia. Na interpelação
do sujeito pela ideologia, critica-se a constituição do sujeito e do sentido.
Não há sujeito como origem ou causa de si e o sentido literal é uma ilusão (a
ilusão da literalidade).
O sujeito deve sua instituição à interpelação ideológica (Althusser). O
sujeito não é o centro do seu dizer, de modo que ele se caracteriza por duas
formas de esquecimento: 1oesquecimento –
o sujeito se constitui pelo esquecimento da formação discursiva que o
determina. Só há sujeito pela sua inscrição na formação discursiva. É devido a
esse esquecimento que o sujeito tem a ilusão de ser a origem do que diz; 2o esquecimento
– o sujeito esquece que há outros sentidos possíveis. Nesse caso, ao
formular o seu dizer, vão-se construindo cadeias parafrásticas de tudo aquilo
que ele poderia dizer, mas não disse. Quanto mais operamos formulações tanto
mais silenciamentos se deixam vazar de nossas palavras. Esses silenciamentos
compreendem o domínio do formulável (eles também dizem). Esse esquecimento
segundo acarreta a ilusão da relação termo a termo entre o dizer, o pensar e a
realidade.
A linguagem é lugar do equívoco, isto é, o
equívoco é a falha da linguagem na história. A possibilidade de falha é
constitutiva da ordem simbólica. O equívoco é o fato de discurso, pois que o
discurso é que articula entre si sujeito, língua e História. A ordem do
discurso é resultado da articulação entre a ordem da língua, a ordem da
história e seu funcionamento.
O que se chama de “equívoco”, em Análise do
Discurso, não é um acontecimento da ordem do formulável, da ordem da relação
entre as palavras e as coisas, mas equívoco enquanto constitutivo da relação
entre o sujeito e o simbólico, ou seja, sua relação com a ideologia e com o
inconsciente. Nesse sentido, o equívoco é que faz com que alguém que fale acredite
separar aquilo que é sujeito à interpretação daquilo que não o é. Na verdade, há sempre interpretação. Reitero, pois:
há sempre interpretação e faz parte da
ilusão imaginária do sujeito crer-se como a origem do sentido, projetando-se
sobre a literalidade e imaginando que só alguns sentidos são sujeitos à
interpretação, enquanto outros seriam evidentes, literais. Todo gesto de interpretação é um ato
simbólico de intervenção no mundo (Orlandi, ibid., p. 84). É uma prática
discursiva, linguística-histórica e ideológica.
Todos os gestos de interpretação são constitutivos tanto da leitura
quanto da produção de um sujeito falante. Sempre que fala, o sujeito também
interpreta. Sempre que diz, ele tem de inscrever-se no interdiscurso, tem de
filiar-se a uma memória discursiva. Em suma, a interpretação é o espaço do
possível, da falha, do equívoco, do efeito metafórico, do trabalho da história,
do significante, enfim, é trabalho do sujeito.
Retomando-se a contribuição do materialismo histórico para
a constituição do campo de estudos da Análise do Discurso, deve-se reter que há
o real da História, de sorte que o homem faz história, mas ela não lhe é
transparente. Conjugando a língua com a História na produção de sentidos (os
sentidos são produto do trabalho de uma relação determinada do sujeito com a
História), os estudos do discurso se ocupam com a dinâmica da forma material,
que é a forma encarnada na história para produzir sentidos. Essa forma é de
natureza linguístico-histórica. Esclarecendo os elementos que estão em jogo no
trabalho do analista do discurso, cumpre sublinhar: a) o sentido não é
o conteúdo semântico das palavras; b) a História não é um
contexto, um enquadramento de acontecimentos; c) o sujeito não
é a origem de si e nem está na origem do que diz. A Análise do
Discurso está, portanto, preocupada com a ordem do discurso, na qual o sujeito
se define por meio de sua relação com o sistema significante dotado de
sentidos, sua corporeidade, sua historicidade (Orlandi, 2007, p. 49). O sujeito
é, assim, sujeito significante (que significa), é sujeito histórico (ou seja,
material). Esse sujeito, conforme mostrei, é uma posição-sujeito,
isto é, ele se define como “posição”, porque é um sujeito atravessado por
diferentes “vozes”, por diferentes discursos, numa relação, submetida a regras,
com a memória discursiva (o interdiscurso). Esse sujeito só
existe por sua relação com uma formação discursiva, a qual, por sua vez, mantém
relação com as demais formações discursivas. Portanto, o sujeito de que se
ocupa a Análise do Discurso é um lugar de significação que se constitui
historicamente, vale dizer, pelo interdiscurso: “o discurso não é um conjunto
de textos, é uma prática. Para se encontrar sua regularidade não se analisam
seus produtos, mas os processos de sua produção” (Orlandi, 2008, p. 55).
Uma vez que não se separam forma e conteúdo, a Análise do Discurso visa
a compreender a língua não só como estrutura, mas, sobretudo, como um
acontecimento. Da reunião da estrutura e acontecimento, resulta que a forma
material (linguístico-histórica) é considerada como o acontecimento do
significante (língua) num sujeito afetado pela História. É importante destacar
que as palavras que usamos no trato cotidiano com a língua já nos chegam
carregadas de sentidos, dos quais ignoramos a origem de constituição. Não
obstante, elas significam em nós e para nós.
2.4.1. As representações imaginárias
Quem enuncia A, tem de responder a perguntas implícitas como “quem sou
eu para lhe falar assim?”, “quem é ele para eu lhe falar assim?”. Ao enunciar
A, o enunciador constrói uma imagem de seu enunciatário, e este, por sua vez,
constrói uma imagem do enunciador, e ambos constroem uma imagem daquilo sobre o
qual falam. O quadro, no entanto, é mais complexo, porquanto o enunciador faz
uma imagem da imagem que o enunciatário faz do próprio enunciador, e o
enunciatário faz uma imagem da imagem que o enunciador faz do enunciatário.
Essas imagens, para Pêcheux, devem ser tomadas como representações imaginárias, ou seja, os lugares do enunciador e do
enunciatário tais como são representados nos processos discursivos em que são
colocados em jogo. Se um professor, por exemplo, se dirige a seus alunos, não
se deve considerá-los como indivíduos concretos, pessoas, mas como posições
historicamente constituídas em sociedades em que essas funções se circunscrevem
a certas regras e às quais se chega através de um conjunto de procedimentos. As
representações imaginárias resultam de um processo social, ideológico, e não
são simplesmente imagens que um locutor faz do outro.
2.5. As formas do silêncio, a incompletude e a opacidade da linguagem
Todo dizer é expressão de uma relação necessária com o não-dizer. Há uma
dimensão de silêncio que remete ao caráter da incompletude da
linguagem. A incompletude da linguagem se prende ao reconhecimento:
a) da errância dos sentidos (a sua migração);
b) da vontade de um (da unidade, do sentido fixo); do lugar do non
sense, o equívoco.
A incompletude da linguagem é o lugar dos muitos
sentidos, do fugaz, do não-apreensível. Portanto, a errância dos sentidos, a
vontade de unidade, do sentido fixo, o lugar do non sense, o
equívoco e a própria incompletude da linguagem (para a qual voltarei olhares
mais adiante, a fim defini-la melhor) estão no cerne do funcionamento da linguagem.
Em seu As formas do silêncio (2007), Orlandi
escreve: “As palavras transpiram silêncio” (p. 12). Há, pois, silêncio nas
palavras. O silêncio é fundante: ele funda a possibilidade de sentido. O
silêncio é um lugar de recuo onde se pode significar, a partir do qual o
sentido faz sentido. Novamente, ouçamos Orlandi:
“O silêncio como horizonte, como imanência do sentido (...) aponta-nos
que o fora da linguagem não é o nada mas ainda sentido” (p. 13).
O silêncio, pensado em sua historicidade constitutiva, não é ausência de
som, mas é um acontecimento que atravessa as palavras, que existe entre elas,
que indica que o sentido pode ser sempre outro. As palavras produzem silêncio;
o silêncio “fala”; as palavras silenciam (p. 14).
O silêncio garante o movimento de sentidos. Dizemos sempre a partir do
silêncio. Cada palavra enunciada “apaga” necessariamente outras palavras. Isso
se dá porque o silêncio também é constitutivo do dizer. Assim, observa Orlandi
“O homem está “condenado” a significar. Com ou sem palavras, diante do
mundo, há uma injunção à interpretação: tudo tem de fazer sentido (qualquer que
ele seja). O homem está irremediavelmente constituído pela sua relação com o
simbólico” (p. 29-30).
Portanto, o silêncio não é falta. A linguagem é excesso. O silêncio não
fala simplesmente; ele significa. No silêncio, o sentido é. (p. 32).
“A linguagem é conjunção significante da existência e é produzida pelo
homem para domesticar a significação” (ib.id.).
O silêncio é disperso, e a fala o segmenta, o estrutura. O silêncio é o
que torna possível a significação, todo dizer. O silêncio é presença. O sentido
do silêncio não deriva do sentido das palavras. Nem o sentido, nem a linguagem
são transparentes.
Não se pode não significar. O silêncio se relaciona, necessariamente,
com a significação, e a linguagem é o movimento incessante das palavras para o
silêncio e do silêncio para as palavras. É necessário insistir em que as
palavras estão carregadas de silêncio. Por um lado, não podemos suprimir das
palavras o silêncio; por outro lado, não podemos recuperar o silêncio só pela
verbalização.
Por fim, retomando-se a noção de incompletude da linguagem,
reitere-se que a incompletude é uma característica fundamental da linguagem. O
fenômeno da incompletude da linguagem recobre a) o fato de serem
diversas as formas de manifestação da linguagem; b) o fato de que o sentido
está sempre em aberto; c) o fato de que o texto é multifuncional enquanto
objeto simbólico. A incompletude repousa no fato de que o dizer é
aberto. A crença numa “palavra final” é efeito de uma ilusão. O dizer não tem
um início verificável; e o sentido toma múltiplas direções; está sempre em
curso. A incompletude da linguagem decorre, portanto, do fato de que a própria
linguagem é categorização dos sentidos do silêncio; é um modo de domesticá-los.
A linguagem também é opaca. A opacidade da linguagem se explica pelo
fato de que o sentido não existe em si mesmo, não se acha nas palavras, mas é
sempre um efeito da interatividade do discurso no qual intervêm,
necessariamente, gestos de interpretação. Não há sentido sem interpretação. A
opacidade ou não-transparência da linguagem consiste também na propriedade de o
sentido poder ser sempre outro.
2.6. Ideologia
Desde já, deve-se frisar que a ideologia, no contexto teórico da Análise
do Discurso, não é uma forma de ocultamento de conteúdos, mas um mecanismo de
produção de uma interpretação necessária que atribui sentidos fixos às
palavras. Por isso, o mecanismo ideológico não envolve uma falta, mas um
excesso (Orlandi, 2007, p. 66). A ideologia representa a saturação do sentido,
o efeito de completude, o qual, por sua vez, é responsável pelo efeito de
evidência (do sentido).
A ideologia funciona pelo equívoco e se estrutura sob o modo da
contradição. Quanto mais centrado o sujeito, mais cegamente ele está preso a
sua ilusão de autonomia ideologicamente constituída. É que o sujeito é
descentrado, disperso; o sujeito é uma posição-sujeito; muitos dizeres o
atravessam, sem que ele tenha consciência disso. Quanto mais certezas acredita
ter, menos possibilidade de falhas. A ideologia não afeta o sujeito no
conteúdo; ela o afeta na estrutura pela qual o sujeito e o sentido funcionam.
Isso significa dizer que a ideologia não é X, mas reside no mecanismo
imaginário de produção de X, sendo X um objeto simbólico. Isso decorre do fato
de que não há sentido se a língua não se inscrever na História. A ideologia não
é, portanto, ocultação; ela é produção de evidências.
Pêcheux propõe uma teoria materialista dos processos discursivos, na
qual se articulam três noções:
a) a de discursividade;
b) a de subjetividade;
c) a da descontinuidade ciência/ideologia.
Destarte, ele propõe: a) uma teoria do discurso como teoria da determinação
histórica dos processos de significação; b) uma teoria não subjetivista da
subjetividade/ c) uma teoria da prática política como prática de produção de
conhecimento que reflita sobre as diferentes formas pelas quais a necessidade
cega se torna necessidade pensada e modelada como necessidade.
Pela ideologia, afetado pelo simbólico, o indivíduo é interpelado em
sujeito. É assim que podemos dizer que o sujeito é ao mesmo tempo despossuído e
mestre do que diz. Uma teoria da materialidade do sentido deve mostrar que o
sujeito se constitui afetado pelo simbólico na história. Essa constituição do
sujeito pelo simbólico na história se dá sob o modo da ilusão que tem o sujeito
de ser senhor de si e de seu dizer, de ser fonte de seu dizer. A relação do
sujeito com a língua é parte de sua relação com o mundo. Essa relação é social
e política. Por conseguinte, é o Estado com suas instituições e relações
materializadas na formação social que lhe corresponde, que individualiza a
forma-sujeito histórica e produz diferentes efeitos nos processos de
individuação do sujeito na produção dos sentidos. É assim que o sujeito não é a
unidade de origem, mas o resultado de um processo, um constructo, que tem no
Estado sua instância produtora. Consoante ensina Orlandi (2012, p. 107),
Uma vez interpelado em sujeito, pela ideologia, em um processo
simbólico, o indivíduo, agora enquanto sujeito, determina-se pelo modo como, na
história, terá sua forma individualizada concreta: no caso do capitalismo, que
é o caso presente, a forma de um indivíduo livre de coerções e responsável, que
deve assim responder, como sujeito jurídico (sujeito de direitos e deveres),
frente ao Estado e aos outros homens. Nesse passo, resta pouco visível sua
constituição pelo simbólico, pela ideologia. Temos o sujeito individualizado,
caracterizado pelo percurso bio-psico-social. O que fica de fora quando se
pensa só o sujeito, já individualizado, é justamente o simbólico, o histórico,
o ideológico que torna possível a interpelação do indivíduo em sujeito.
A discursividade deve ser, pois, compreendida como efeito material da
língua na história – língua, ipso facto,
sujeita ao equívoco. A conversão do discurso em texto representa a correlação
do sujeito com a função-autor.
2.7 A função-autor
Está claro que o que interessa à Análise do Discurso é compreender como
as posições-sujeito se constituem e constituem sentidos na sua relação
necessária com o simbólico e a História. O autor é apenas uma função assumida
pela sujeito sob o modo da ilusão de ser a origem do que diz. Segundo Foucault
(2008, p. 26, grifos meus): “o autor, não entendido, é claro, como o indivíduo
falante que pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e
origem de suas significações, como foco de sua coerência”. Para Orlandi
(ibid., p. 69), “ o autor já é uma função da noção de sujeito”. O autor é uma
função-autor que se realiza toda vez que o sujeito se representa na origem do
que diz, produzindo um texto com unidade, coerência, progressão,
não-contradição e fim. Em suma,
“o que caracteriza a autoria é a produção de um gesto de interpretação,
ou seja, na função-autor o sujeito é responsável pelo sentido do que diz, em
outras palavras, ele é responsável por uma formulação que faz sentido”
(Orlandi, 2007, p. 97).
2.8. Interdiscurso (memória discursiva)
A interdiscursividade recobre o entrecruzamento de
diferentes discursos, produzidos em diferentes momentos na História e a partir
de diferentes lugares sociais. Todo discurso é constituído de diferentes
enunciados que o antecedem e o sucedem, e que integram outros discursos.
Correlato ao fenômeno da interdiscursividade, o interdiscurso ou memória
discursiva é a instância da repetição histórica, porque inscreve o
dizer no repetível (interpretável) enquanto memória constitutiva
(interdiscurso). Esta memória é uma rede de filiações de dizeres que faz a
língua significar. Destarte, sentido, memória e História se entrecruzam no
interdiscurso.
O interdiscurso é aquilo que fala antes, em outro lugar,
independentemente da formulação de um discurso dado. É a memória discursiva, o
saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma de
pré-construído, o já-dito que está na base do dizível e que dá suporte a toda
tomada da palavra. O pré-construído supõe uma oposição entre algo anteriormente
estabelecido com o que está sendo construído por ocasião do discurso. O
pré-construído é, portanto, a marca num enunciado de um discurso que o
antecede. Nesse sentido, o pré-construído se prende inextricavelmente à noção
de interdiscurso (o já dito). Há duas coisas importantes que devemos ter em
conta nessa noção: a) ela sugere uma imbricação (sobreposição parcial) entre
discursos e entre formações discursivas exteriores e anteriores; b) ela também
sugere a instabilidade da oposição entre o interior e o exterior de uma
formação discursiva.
O interdiscurso põe em movimento dizeres que afetam o modo como o
sujeito significa em uma situação discursiva dada. O interdiscurso, em suma, é
o conjunto de dizeres já ditos e esquecidos que determina o que dizemos. Para
que nossos enunciados tenham sentido, é necessário que já tenham sentido (em
outros lugares, em outras formações discursivas).
Tendo ficado claro que o interdiscurso é o próprio espaço de inscrição
da memória de dizeres, que a memória discursiva expressa a inscrição da língua
na História, levo a termo este texto, referindo as palavras de Orlandi (2010,
p.18), que definindo o interdiscurso, sublinha a relação deste com a formação
discursiva:
O interdiscurso determina a formação discursiva. E o próprio da formação discursiva é
dissimular na transparência do sentido, a objetividade material contraditória
do interdiscurso que a determina. Essa objetividade material contraditória
reside no fato de que algo fala sempre antes em outro lugar e
independentemente. O interdiscurso é irrepresentável. Ele é
constituído de todo dizer já-dito. Ele é o saber, a memória
discursiva. Aquilo que preside todo dizer. É ele que fornece a cada sujeito sua
realidade enquanto sistema de evidências e de significações percebidas,
experimentadas. E é pelo funcionamento do interdiscurso que o sujeito não pode
reconhecer sua subordinação-assujeitamento ao Outro, pois, pelo efeito de
transparência, esse assujeitamento aparece sob a forma de autonomia. (grifos
meus).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio
de Janeiro: Forense universitária, 2008.
ORLANDI, E. P. Autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Campinas, SP:
Pontes, 2007.
________________. Discurso e Texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas,
SP: Pontes, 2012.
PÊCHEUX, Michel. Análise do discurso. (org) Eni P. Orlandi. Campinas, SP: Pontes, 2011.