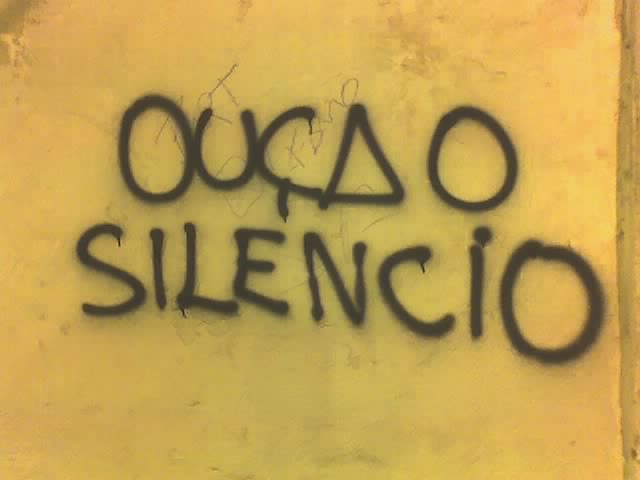O domínio do simbólico
Sobre a relação entre o homem e a realidade
No filme 2001 Uma odisséia no espaço, produzido e dirigido em 1968 por Stanley
Kubrick, chama-nos especialmente a atenção uma cena em que um dos macacos pega
de um dos ossos de uma ossada e desfere sobre ela vários golpes. Trata-se de um
momento emblemático, no qual nosso ancestral descobre estar de posse de uma
ferramenta que lhe investe de um poder de agir sobre o meio ambiente. Desse
instante em diante, sua relação com o mundo exterior se transforma. Ele não
mais depende de ervas para se alimentar; caça para obter alimento. Também
expande seu domínio territorial, intimidando os demais grupos com o poder que
lhe confere a posse do osso. Aquela ferramenta torna-se, sem que ele ainda
tivesse consciência disso, signo do poder, signo de força e domínio sobre o
ambiente.
O uso do osso
como instrumento de poder não se acompanhara, àquela altura ainda, do
desenvolvimento da linguagem. Não havia ainda fala articulada, embora houvesse
alguma forma de “insight”, sem raciocínio deliberado. O germe da
inteligibilidade, talvez, estivesse ali naquele “insight” primevo, mas ainda
não havia entendimento, não havia apreensão conceitual do mundo. O mundo ainda
não fora interiorizado na forma de conceitos. A capacidade de produção de
conceitos é dependente do desenvolvimento da aquisição da linguagem. Para ser
mais específico: dependente da aquisição da linguagem verbal.
Ainda que
admitíssemos haver, naquele momento, uma possibilidade de sentido, sua massa
não estava ainda organizada, pois não havia um sistema de signos que a
segmentasse e a estruturasse. O sentido ainda não estava domesticado pela
língua. A palavra sentido vale, aqui, por significado. Não faço distinção entre
esses conceitos, para efeito das considerações que se seguirão. Mas será
preciso definir o que entendo por significado ou sentido, em tempo.
Neste texto,
sustentarei a tese de que não há possibilidade de pensamento conceitual sem
linguagem. Essa tese pode ser também expressa com a afirmação segundo a qual as
palavras criam conceitos e delas depende a produção dos conceitos. Nesta
exposição, procurarei explorar e desenvolver as complexas questões que
compreendem as relações entre linguagem e pensamento, linguagem e realidade,
linguagem e consciência. Não poderei dar conta da profundidade dessas complexas
relações e tampouco poderia pretender mensurar todas as suas consequências (o
que seria tarefa impossível num único texto), mas me esforçarei por patentear o
importante papel que desempenha a linguagem no desenvolvimento da cognição
humana. Estamos condenados a significar – e essa asserção será devidamente
justificada neste texto. Não temos saída; não há como pensar (formar juízos,
combinar conceitos) fora dos domínios da linguagem. Até mesmo para contemplar
as referidas questões precisamos valer-nos dos signos que a língua nos
disponibiliza. Não há, insisto, outra forma de existir para os homens senão na
dimensão simbólica. Não há possibilidade de sair da linguagem para dela se
ocupar. Tampouco sair dela para pensar a relação dela com o mundo, a
consciência e o pensamento. Como pensar o que são os conceitos sem produzir
estruturas conceituais? Como defini-los sem usar signos, que combinam, de modo
indissociável, som e conceito (ou significado, para os linguistas)?
Este texto
será desenvolvido em várias seções. Começarei por esclarecer o conceito de
linguagem e de língua; posteriormente, debruçar-me-ei sobre a natureza do
signo. A cada questão contemplada, destinarei uma seção ou subseção. Desse
modo, espero poder deslindar a complexidade das questões, contribuindo para que
elas se esclareçam, sem que, no curso de sua elucidação, o leitor se sinta enfadado
com a revelação de suas diversas maneiras de se relacionarem umas com as outras.
É consensual entre muitos estudiosos (psicólogos, linguistas, filósofos,
antropólogos, sociólogos) que a faculdade da linguagem demarca uma linha
divisória entre os humanos e os animais não-humanos; ademais, a capacidade de
usar uma língua foi um acontecimento determinante do desarrancamento do homem
em relação aos limites impostos por sua condição natural. Mas, valeria
perguntar se há, de fato, uma linguagem animal e, se há, o que a torna distinta
da linguagem humana? São questões que aqui tocarei de leve, sem pretender me
demorar em sua exposição. O tema, por si mesmo, é complexo o bastante para pretender
esmiuçar sua miríade de aspectos em um único texto.
1.
A função de
simbolização da linguagem verbal
Em nossas vivências cotidianas, servimo-nos de
nossa língua materna para estabelecer relações comunicativas com as pessoas. É
justamente porque esse é o modo imediato de nos relacionarmos com a língua no
dia-a-dia que, por força do hábito, vemo-la como mero instrumento de
comunicação. Essa visão reducionista da linguagem apresenta, ao menos, dois
problemas que me apresso em apontar. O primeiro dos quais diz respeito à noção
de instrumento de comunicação, que, facilmente, nos leva a acreditar que a
língua é um simples recurso pelo qual transmitimos informações a outras
pessoas. Ocorre que o uso da língua é muito mais do que transmissão de
informações, é mais do que comunicar pensamentos; o uso da língua é uma
atividade interacional, uma atividade intersubjetiva de produção de sentidos. A
língua é o próprio lugar onde acontece a inter-ação social. Portanto, ela
permite que nós interajamos com as outras pessoas; permite, em suma, que ajamos
sobre o comportamento delas; é o domínio que possibilita a construção interacional
dos significados. Pela língua, os falantes agem uns sobre os outros, influenciando-se
de modos vários reciprocamente. Segundo essa perspectiva interacionista da
linguagem, o que produzimos, ao usar a língua, são atos de fala, ações
linguísticas que visam a provocar um efeito em nossos interlocutores. Nesse
sentido, nossos atos de fala destinam-se a provocar neles um comportamento, uma
reação, que pode ser verbal ou não-verbal.
O segundo problema que a concepção de língua
como instrumento de comunicação suscita, ao mesmo tempo em que o mascara, toca
ao fato de que a língua, antes de servir à interação – ou talvez, ao mesmo
tempo em que serve à interação social – torna possíveis as relações do homem
com o mundo.
A par de sua função comunicativa, entendida
como função de interação social, é imperioso reconhecer sua função, mais
básica, que é a de simbolização.
Desta função depende a função de interação social. É a função de simbolização
que possibilita a relação entre o indivíduo e o complexo de suas experiências
de mundo. Graças a essa função, “(...) podemos transformar todos os elementos
do mundo em dados da nossa consciência e em assunto de nossos discursos
(Azeredo, 2002, p. 17)”.
Em Fundamentos da Gramática do Português,
(2002), Azeredo mostra que a função de simbolização supõe que a língua medeia a
relação entre o homem e o mundo, servindo como uma espécie de mapa que o
orienta para a percepção das coisas e das relações entre as coisas. Nas
palavras do autor, “assim como o mapa estrutura o território para quem o
percorre, a língua organiza o mundo como uma estrutura dotada de significado”
(ib.id.).
A linguagem verbal simboliza tanto o universo
real em que vive o homem quanto o universo imaginário que ele cria. A tese, já
anunciada, que pretenderei defender terá desdobramentos que tomam forma no
seguinte fragmento tomado a Azeredo:
“Os conteúdos que o homem concebe e expressa por meio da linguagem não estão no mundo, mas na consciência humana formada na vida em
sociedade, como resultado do poder
simbólico da palavra”.
(p. 17, grifo meu).
Esses “conteúdos que o homem concebe” são o que
podemos chamar de conceitos. Será necessário definir o que entendo por
conceito, tarefa esta a que destinarei uma seção mais adiante. Por ora, cumpre
notar que esses conteúdos ou conceitos não existem no mundo, nem podem existir
sob qualquer condição, sem o advento das palavras, ou, o que é o mesmo, sem o
poder simbólico de que elas são investidas.
O locus
dos conceitos é a consciência humana, e não o mundo da experiência sensível e
exterior a ela, o que não significa negar a participação da experiência
sensorial no processo de produção dos conceitos (as sensações são a
matéria-prima nesse processo). A condição para que haja conceitos é que exista
uma consciência capaz de fabricá-los. Mas essa consciência, conforme veremos, é
ela mesma produzida nas relações sócio-históricas, ou seja, no processo do
viver social por força do poder simbólico da palavra.
Para bem acompanhar o curso da discussão,
dever-se-á tomar a palavra como algo intimamente relacionado à vida, à
realidade; mas não como uma coisa entre as coisas; e sim como condição de
existência significativa das coisas. Na sua relação necessária e indissociável
com a vida, a palavra é uma dimensão fundamental do processo de interação entre
o indivíduo e a realidade. Na sua relação com a realidade, devemos pensar a
palavra como signo dotado de quatro
propriedades definitórias, das quais destaco três, por sua relevância para o
tratamento do tema deste texto:
1)
pureza semiótica: diz respeito
à capacidade que tem a palavra de funcionar como signo ideológico – grosso
modo, como forma de interpretações e reflexos da realidade social – em toda e
qualquer esfera social. A palavra perpassa todas as esferas sociais;
2)
possibilidade de interiorização: ela
é o único meio de contato entre a consciência do sujeito, constituída de
palavras, e o mundo exterior, também construído por palavras;
3)
participação em todo ato consciente: a
palavra opera tanto nos processos internos da consciência, pela compreensão e
interpretação do mundo pelo sujeito, quanto nos processos externos de
circulação da palavra em todas as esferas ideológicas.
A propriedade de interiorização que tem a
palavra é, particularmente, interessante, na medida em que ajuda-nos na
compreensão do conceito de consciência como produto socioideológico. Se admitirmos que a consciência humana é
construída nas inúmeras relações sociais em que ela está, evidentemente,
envolvida – relações estas que se tornam possíveis pelo uso da língua –, a
realidade da própria consciência se forma pela interiorização das palavras,
donde ser apropriado dizer, com Bakhtin, que a realidade da consciência é o signo.
Pela consciência, estruturada pela palavra, o
homem percebe a si mesmo na sua relação, entretecida de significados, com o
mundo. Esse contato consciente com o mundo é possibilitado pelas palavras.
2. O pensar totalizante
Creio necessário fazer uma breve digressão para
esclarecer o leitor sobre a dimensão metodológica de minha abordagem. Neste
texto – reitero – pretendo advogar a tese segundo a qual não há possibilidade
de elaborar conceitos sem o domínio pelo homem da palavra ou da linguagem
verbal. Não nego, de modo algum, que a elaboração de conceitos dependa de uma
base sensorial, ainda que, neste texto, não tenha eu a pretensão de investigar
de que modo as sensações tomam parte do processo de fabricação de conceitos e,
portanto, da realidade. Certamente, comungo da visão de autores como Izidoro
Blikstein (2003), por exemplo, segundo a qual a realidade é fabricada por toda
uma rede de estereótipos culturais que condicionam a percepção. A linguagem
reforça e garante esses estereótipos, de modo que a realidade é produto da
interação entre linguagem, percepção-cognição e práticas culturais.
Como eu não suponha que este texto esgote tudo
que se poderia dizer sobre a relação linguagem-percepção-cultura-realidade,
oriento minha análise à luz de pressupostos da dialética marxista. Com base
nesse método, devemos compreender que o conhecimento é totalizante e que a
atividade humana é um processo de totalização. Como tal, esse processo nunca
atinge uma etapa definitiva e acabada.
O que se deve entender, portanto, por
totalização?
O conceito de totalização supõe a ideia de que todo objeto que se dá à percepção
do homem é parte de uma totalidade. Em cada momento da ação empreendida pelo
homem, ele precisará lidar, inevitavelmente, com problemas que se ligam de
formas complexas. A fim de solucioná-los, o ser humano terá de construir uma
visão de conjunto. Somente com base nessa visão de conjunto poderá ele avaliar
o alcance de cada elemento da totalidade.
A visão do todo, portanto, precede e condiciona
a avaliação das relações complexas entre as partes. No entanto, se nos
ativermos ao postulado da dialética marxista anunciado acima, qual seja, “todo
objeto é parte de uma totalidade”, devemos, forçosamente, reconhecer que aquela
visão de conjunto é provisória e jamais pretende esgotar a realidade a que se
refere.
É preciso também admitir, em consonância com
esse postulado, que a realidade é sempre mais vasta, mais complexa do que o
conhecimento que podemos construir dela. Há sempre alguma esfera ou região da
realidade que escapa às nossas sínteses, o que não deve nos desencorajar de
elaborar sucessivas sínteses, com vistas a alcançar uma compreensão cada vez
mais satisfatória e totalizante da realidade.
A síntese é a visão de conjunto pela qual o
homem pode descobrir a estrutura significativa da realidade, numa dada
situação. É essa estrutura significativa, que se torna conhecida por nossas
sínteses ou visões de conjunto, que se chama totalidade.
Na medida em que os elementos se articulam de
modo vário, passam a ter propriedades que lhes faltariam caso estivessem fora
do conjunto. Ora, uma vez que se assuma o conhecimento como um processo
totalizante, e mesmo a própria atividade humana como um processo de
totalização, impõe-se-nos a conclusão de que há várias totalidades de extensão
variável. Assim, há totalidades mais abrangentes e outras menos abrangentes; as
menos abrangentes integram as mais abrangentes.
O grau de abrangência das totalidades depende
do nível de generalização do pensamento e dos objetivos concretos perseguidos
pelo homem em cada situação. O que se disse até aqui é suficiente para advertir
o leitor de que não se pretende, portanto, nesta abordagem proposta, atingir o
grau máximo de totalização, o que seria um esforço inútil, visto que a própria
pretensão de alcançar esse grau máximo parece estar fora do domínio das
possibilidades da cognição humana. À medida que, pelo pensamento investigativo,
vou desdobrando o objeto de cujo conhecimento me ocupo aqui, será inevitável
que nos confrontemos com uma série reticular de problemas, de questões, de
elementos que não pode ser totalmente recoberta pela análise, donde a
necessidade de um “recorte”, que torne possível delimitar uma totalidade em
cujos limites de desenvolva o processo de conhecer.
3. O que é o conceito?
A proposição a cuja sustentação me dedicarei,
ao longo da produção deste texto, é que o conceito não preexiste à linguagem
verbal e que não há conceitos no mundo, nem possibilidade de conceptualização
num universo que não tenha produzido um organismo biológico dotado da
capacidade de falar uma língua natural.
Em filosofia, o conceito é empregado na acepção
de ideia. De passagem, noto que Ferdinand Saussure, considerado o pai da
Linguística moderna, não distinguia entre significado e conceito. Na filosofia,
no entanto, Kant diferenciou conceito de ideia. Para ele, as ideias eram noções
gerais formadas pela razão de modo independente do mundo. Elas serviam de
condição de possibilidade do próprio conhecimento. Ainda para Kant, os
conceitos, por outro lado, embora preexistissem ao contato do homem com o
mundo, prendiam-se às intuições sensíveis. O conceito, para Kant, comporta,
pois, um conteúdo empírico, já que estava relacionado às representações do
mundo. As ideias, ao contrário, entendidas como ideias da razão, são
desprovidas desse conteúdo empírico.
Para Platão, Ideia ou conceito têm o mesmo
significado: dizem respeito à essência das coisas. Aristóteles também não
distinguia entre conceito e ideia, conquanto empregasse a palavra conceito para
tratar do entendimento, isto é, da faculdade de conhecer o mundo, de nomear as
coisas e de formar juízos sobre elas.
A compreensão aristotélica deixa-nos entrever a
definição de conceito como representação mental ou imagem mental dos objetos
de nossa percepção. Essa noção, encontramos também em Saussure.
No domínio da linguagem e da lógica, o conceito
é uma unidade ou estrutura cuja função é designar alguma coisa. Nesse caso, o
conceito é dotado de uma função expressiva (denotativa), na medida em que dá
voz a alguma coisa. Também, nesse caso, deve ser visto como uma noção geral,
por exemplo, o conceito de “árvore”, de “homem”, de “animal”, etc.
Nietzsche, seguido de perto por Deleuze, não
definia o conceito apenas como uma representação mental passiva; tampouco ambos
pensavam-no como uma forma a priori. Para eles, os conceitos são elaborados
numa atividade contínua e intensa do espírito, na sua relação com o mundo e com
outros conceitos.
É particularmente interessante notar que,
segundo Deleuze, a tarefa da filosofia é criar conceitos e que os conceitos,
ainda que subscritos pela assinatura de um filósofo, entram a fazer parte de um
devir eterno, depois de trazidos a lume. Por isso, eles podem e são
continuamente reposicionados em outros planos de significação, adquirindo, não
raro, novos contornos ou matizes de significado.
3.1. Propriedades do conceito
O conceito é um objeto do conhecimento
consciente, que se liga ao seu significado específico. Esse significado o
distingue de outros objetos do conhecimento consciente. Por exemplo, tomemos os
conceitos de “xícara” e “caneca”. Tanto a “xícara” quanto a “caneca” têm alças,
por onde as seguramos, mas a xícara não tem a forma cilíndrica que tem a
caneca. A caneca pode ser feita de metal, mas a xícara não o é. Xícaras, em
geral, são menores que as canecas. Xícaras servem para tomarmos líquidos
quentes, como café ou chá. É interessante notar que entram como parte do
conceito de “xícara” e “caneca” não só aspectos formais e materiais, mas também
referentes ao uso que fazemos desses objetos. Todo conceito é constituído de
mínimos componentes de significado. Esses componentes é que determinam a
distinção entre os diversos conceitos. Por exemplo, o conceito de “homem”
inclui o componente ‘racional’, em contraste com a ausência desse componente no
conceito de “animal”. Poderíamos também propor como traço distintivo dos
conceitos de “homem” e “animal” a capacidade linguística: o homem é um ser de
linguagem articulada; os animais são desprovidos dessa propriedade.
Todo conceito comporta duas propriedades
básicas: a abstração e a generalização. Melhor será pensá-las
como propriedades inerentes ao processo de produção de conceitos. Todo conceito
se forma por abstração e por generalização. A abstração é o ato pelo qual se
isola uma propriedade do objeto ou coisa; a generalização, a seu turno, em
seguida, reconhece que a propriedade, então, abstraída, pode ser atribuída a
vários objetos. Assim, por exemplo, “aspereza”, “doçura” e “maciez” são
conceitos abstratos que a mente humana apreende como qualidades comuns a uma
determinada classe de coisas. Também “humanidade” é um conceito abstrato para
os seres humanos em geral ou para um modo de ser moralmente aceitável, quando
dizemos, por exemplo, “Que falta de humanidade!”, caso em que repreendemos
alguém por uma atitude moralmente depreciada.
Em filosofia, embora conceito não guarde total
sinonímia com a palavra ideia (isso não deve nos surpreender, pois nenhuma
palavra de nenhum língua conhecida é sinônima perfeita de outra), pode-se
defini-lo como uma ideia geral e abstrata sob a qual se reúnem diversas
propriedades. O conceito é condição para o pensamento elaborador e reflexivo,
pois designa tudo que pode ser pensado.
Além das propriedades, já mencionadas, de
abstração e de generalização, que são etapas básicas do processo de elaboração
do conceito, todo conceito envolve, nesse processo, as propriedades de intensão e extensão.
Por intensão, entende-se o conjunto de
características ou propriedades que integram a estrutura semântica ou a
definição do conceito. Por exemplo, o conceito de “cão” encerra propriedades
tais como: animal, mamífero, quadrúpede,
etc. O conceito de “cadeira” encerra as propriedades: mobília, para sentar, quatro pernas, etc.
Por extensão, entende-se o conjunto dos entes
ou coisas ao qual se aplica o conceito. O conceito de “cão” recobre os
exemplares “basset”, “fila”, “poodle”, etc. Na semântica lexical, a propriedade
de extensão é recoberta pela oposição entre hipônimos e hiperônimos. O hipônimo
é o termo mais específico do qual o hiperônimo, na relação, é o termo geral.
Assim, “gato” é hipônimo de “animal”; “automóvel” é hiperônimo de “caminhão”. De
passagem, não ignoro o fato de que os conceitos se produzem e se transformam em
condições históricas. Portanto, os conceitos são marcados por uma
historicidade, da qual não poderei tratar aqui.
Finalmente, cabe lembrar que, durante uma
grande extensão de tempo de sua vida, os seres humanos estão pensando. Quando
acordados, dedicam grande parte do tempo a categorizar, comparar, sintetizar,
analisar, avaliar os conteúdos que se lhes chegam à consciência por meio dos sentidos.
Em grande parte do tempo, quando no estado de vigília, dispensam atenção ao
mundo exterior.
Há razão para se acreditar que, mesmo enquanto
dormimos, continuamos a processar informações. Alguns cientistas cognitivos
sustentam que sonhar é uma atividade especial de pensamento. Todas as operações
cognitivas – atenção, percepção,
memória, pensamento e linguagem
– são interdependentes; estão intrinsecamente ligadas entre si.
4. Significado ou significação?
Uso de modo intercambiáveis os termos significado
e significação, embora com este último, muitas vezes, eu pretenda
salientar o aspecto interpessoal-interacional implicado no conceito de
significar. Assim, a significação é uma atividade que se realiza no discurso.
Na Linguística, a significação é tratada, por vezes, em referência a fatores
extralinguísticos, tais como, situação, conhecimentos pressupostos, intenção e
uso da língua. De acordo com essa perspectiva, a significação não é um
componente da palavra ou das expressões linguísticas de modo geral, mas é um
processo, uma atividade a que subjaz interpretação e na qual estão
envolvidos certos mecanismos discursivos.
Há vários tipos de significação, conforme a
ênfase dada aos elementos envolvidos no processo. Por exemplo, se a ênfase
recair sobre a relação entre a língua e entidades, eventos, estados, etc.
externos a ela e ao falante, chama-se a significação de referencial ou denotativa (há outras designações). Se a ênfase
recair sobre a relação entre a língua e o estado mental do falante, tem-se a
significação de atitude, ou afetiva, ou
conotativa, ou emotiva, ou expressiva.
Basta-nos entender a significação (ou o
significado), não obstante existirem modos variados de caracterizá-la, como o
“lugar” em que o homem e o mundo se encontram, ‘lugar’ em que o mundo torna-se
compreensível ao homem e lugar onde o homem se torna um modo sui generis de o
Ser dar-se como objeto para o pensamento.
5. Signo, significado e a dupla articulação da
linguagem
5.1. O signo e o significado
Em seu Curso de Linguística Geral
(2003), Ferdinand de Saussure, considerado o homem dos fundamentos e aquele que
estabeleceu, em contraste com a tradição de estudos anteriores, da qual é
devedor, o que pensava ser o verdadeiro objeto da Linguística Moderna – a
langue (a língua como sistema abstrato de signos considerada em si e por si
mesma). Para Saussure a langue deveria ser estudada sem que se fizesse qualquer
referência a fatores de ordem social, o que não o impediu de encará-la como uma
realidade social, à qual opôs a parole (fala), tomada como uma realidade
individual. Mas, por ser da ordem do social, a estrutura da langue decorria de
convenções que não admitiam, segundo Saussure, variação. A variação, que
Saussure não deixou de reconhecer, era um fato do domínio diacrônico, e não do
sincrônico. As variações, para Saussure, não chegavam a constituir uma
sistematicidade. Portanto, para ele, a langue era um sistema de signos
homogêneo, abstrato, invariável, que deveria ser estudado num dado estado
sincrônico; ao passo que a parole (fala) era heterogênea, a própria realização
(uso) da langue e variável. Os linguistas – os cientistas da linguagem - tinham
de se ocupar com a descrição da langue, já que, segundo a mentalidade à época,
a ciência só poderia se ocupar daquilo que é invariável, homogêneo e que
permitisse aprender uma sistematicidade (a parole era assistemática, segundo
Saussure). A condição para que a Linguística alcançasse o status de ciência era,
em suma, que seu objeto de estudo fosse passível de delimitação e que fosse homogêneo.
A langue saussuriana é um sistema de signos
abstrato que se constitui de oposições recíprocas. Após rejeitar a concepção
trivial de língua como nomenclatura, Saussure diz que o signo linguístico
implica a combinação de dois termos de natureza psíquica (entenda-se duas
faces). Nas palavras do mestre genebrino,
“O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e
uma imagem acústica”.
(p. 80)
Saussure prossegue chamando-nos a atenção para
o fato de que a imagem acústica não é o som material – uma coisa
puramente física -, cujo estudo – supomos – está excluído do domínio da
linguística, - mas a “impressão psíquica desse som, a representação que dele
nos dá o testemunho de nossos sentidos” (p. 80).
Para fins de discussão, é interessante atentar
para o que levou Saussure a concluir que a imagem acústica é de natureza
psíquica. Ele observou que podemos falar conosco ou recitar mentalmente um
poema, sem que, para tanto, precisemos articular uma fala. As palavras podem
“falar” em nós, no silêncio de nossa mente. Saussure manteve, portanto, que o
signo linguístico é uma entidade psíquica dicotomicamente constituída de um
conceito e uma imagem acústica. E enfatizou:
“Esses dois elementos estão intimamente unidos e reclama o outro”.
(ib.id.)
O signo, para Saussure, resulta da combinação
do conceito com a imagem acústica. Posteriormente, ele substituirá esses termos
pelos correspondentes “significado” (conceito) e “significante” (imagem
acústica).
Saussure se ocupou do signo linguístico, mas há
outras espécies de signos, como os símbolos, por exemplo. Dessas outras
espécies não tratarei neste texto. No entanto, há que se notar um traço
fundamental que distingue o signo linguístico, de que tratou Saussure, e cuja
natureza tratei de definir, e as demais espécies de signo. Nestas outras formas
de signo (símbolo, índice, etc.), o significado está sempre do lado de fora. É
atribuído a outra forma de signo. Por exemplo, um pedaço de fazenda preta é
símbolo do luto (que, enquanto palavra, é um signo linguístico; de modo que, na
relação estabelecida pelo símbolo, a ideia abstrata está representada em outra
forma de signo – o signo linguístico “luto”). No símbolo, dá-se uma associação
entre uma ideia abstrata (que precisa do signo linguístico para ser concebida)
e um objeto concreto, material (a ideia de luto associa-se a um pedaço de pano
da cor preta). Essa associação é convencional, tanto quanto a convenção
subjacente à associação entre o significado e o significante no signo. Por ser
convencional, ou seja, estabelecida por um acordo social, a associação pode ser
modificada pelos homens. Ao falar da arbitrariedade na relação entre o
significado e o significado, Saussure reconheceu que essa relação não era da
ordem do natural; isto é, não há nenhuma base natural para justificar a
associação entre a sequência sonora /mar/, por exemplo, e o significado, grosso
modo, ‘grande extensão de água salgada’.
Ora, é fácil mostrar que essa associação é estabelecida por convenção social.
No inglês, o significado de “mar” associa-se a outra sequência sonora /sea/. O conceito de arbitrariedade na relação
entre o significado e o significante, em Saussure, diz respeito ao fato de que
o significado é imotivado em relação ao significante: não há nada que explique
por razões naturais a ligação do significado ao significante que encontramos
num signo. Por ser estabelecida por convenção, essa relação não pode ser
modificado por um indivíduo. O indivíduo sozinho não pode alterar nada na ordem
do signo, segundo Saussure. Nos termos de Durkheim, podemos dizer que a
arbitrariedade do signo linguístico é um fato social, no sentido de que se
impõe de fora aos indivíduos, tendo sobre eles uma força coercitiva, no
entanto, aceitável (e até desejável, para garantir a coesão social).
Toda significação, para ser inteligível,
necessita, em última análise, de um sistema de signos verbais. Por isso, o que
distingue fundamentalmente o signo linguístico das demais formas de signos é o
fato de estes últimos poderem ser traduzidos pelos primeiros, que são
meta-signos universais. Os signos linguísticos ou meta-signos só são traduzidos
com adequação por outros signos linguísticos.
Eles não se baseiam em significados ligados a
outras formas de signo, de modo que não há inteligibilidade possível para o
homem fora de seus domínios. Finalmente, cumpre observar que a relação entre o
significado e o significante (a imagem acústica) é chamada de relação simbólica (tomando
“simbólico”no sentido amplo) e que, embora estejamos identificando o signo com
a palavra, a linguística moderna chama signo toda unidade linguística que
combina um significado com um significante, de modo que abaixo do nível da
palavra situa-se o “morfema” como signo também. Todos os estratos gramaticais
ilustram formas de signos: o menos complexo é o morfema, a ele se segue a
palavra, depois o sintagma, depois a oração, depois a frase, depois o texto
complexo. Este texto que escrevo é, portanto, um macro-signo, uma grande e
complexa estrutura sígnica.
5.2. A dupla articulação da linguagem
A linguagem humana apresenta uma característica
fundamental que a torna distinta do que se costuma chamar, sem os devidos
cuidados, de “linguagem dos animais”. Essa característica foi chamada pelo
linguista francês André Martinet a dupla
articulação da linguagem.
Observemos que a palavra articulação
significa ligação e supõe divisão; e
articulado significa “constituído de partes ligadas”. Aplicado às línguas
naturais, o vocábulo articulação designa a propriedade que tem um
enunciado de ser dividido nas partes que o constituem. Se digo que o radical
“leal” se articula ao sufixo “-dade”, quero dizer que ele se liga a esse
sufixo. A ligação supõe a possibilidade de análise, de divisão do todo em suas
partes constitutivas. Ilustremos a dupla articulação da linguagem, tomando-se o
seguinte enunciado abaixo:
(1) O menino chorava muito.
A dupla articulação da linguagem consiste na
propriedade de a estrutura linguística fundar-se em dois planos: o primeiro
plano de articulação é o das unidades dotadas de significado. Trata-se do plano do significado. O segundo plano é
o das unidades destituídas de significado (fonemas). Trata-se do plano da expressão. Pela análise de (1), revela-se que o enunciado
se constitui de unidades dotadas de significado. A análise dar-nos a conhecer,
assim, o plano do significado. Para nos atermos apenas ao nível do vocábulo,
temos a seguinte divisão do enunciado em suas partes constitutivas:
(1a) O /
menino / chorava / muito
_____________________________________
Plano do significado
Faz-se mister observar que todas as unidades
separadas por (/) são dotadas de significado, se bem que de tipo diferente. Por
exemplo, as formas “menino”, “chorava” são dotadas de significado lexical, isto
é, de significado que representa elementos do mundo biossocial ou
extralinguístico. A forma “muito” que denota ‘grau alto’, ‘intensidade’ tem
significado categorial, ou seja, um significado que indica como a
realidade extralingüística é apreendida, de modo que a forma que o comporta pode
inserir-se numa ou noutra categoria gramatical segundo o lugar que ocupa na
cadeia sintagmática. Por exemplo, “muito” pode ser advérbio, quando se prende a
um verbo, como em (1), mas pode ser pronome, se modifica um substantivo, caso
em que apresentará os gramemas indicativos de número e gênero (cf. Muitos
alunos faltaram hoje/ Muitas pessoas ficaram insatisfeitas).
O artigo “o”, por seu turno, comporta
significado gramatical – melhor será dizer, significado referencial, já que ele
indica que a entidade designada pelo substantivo “menino” constitui uma
informação pressuposta como conhecida do interlocutor. Evidentemente, isso fica
claro quando inserimos o enunciado (1) na totalidade do discurso. Vejamos o
exemplo (2):
(2) A diz – Hoje, vi uma mulher gritando com
uma criança. Gente, tadinho, o menino chorava muito.
Notemos que o uso do artigo definido “o” ocorre
com a condição de já ter sido dada a informação à qual faz referência o
sintagma que ele introduz. O interlocutor é capaz de interpretar “o menino”
como uma unidade nominal que faz referência a “uma criança”. O artigo “o”
indica que a informação contida no sintagma que ele introduz já foi dada, já é
conhecida do interlocutor, ou já tem um endereço cognitivo em sua memória. Via
de regra, usamos o artigo definido sempre que nosso interlocutor detém
conhecimentos prévios que possibilitem a ele recuperar o referente do grupo
nominal definido. Se me dirijo a meu interlocutor, no primeiro momento em que o
encontro, sem dispor de nenhum conhecimento prévio de que ele detém algum
conhecimento sobre o fato comunicado, numa frase como “O deputado foi cassado”,
posso esperar dele uma reação de estranhamento, que poderia ser expressa na
forma de um enunciado como “Do que você está falando?”. De um modo geral, somos
comunicativamente competentes para calcular se nosso interlocutor tem ou não a
quantidade de conhecimentos prévios necessários à compreensão de nossos
enunciados, mas situações como estas não são raras e, em alguns casos, ocorrem
por força de atos voluntários do locutor. Por exemplo, eu poderia querer
insinuar que meu interlocutor anda muito desinformado sobre os acontecimentos
políticos em nosso país. Eu poderia provocá-lo de modo que ele me desse a saber
que está a par do que está acontecendo no cenário político de nosso país.
Volvendo, pois, ao significado do artigo, basta
entender que esse significado não denota um elemento do mundo extralinguístico.
Esse significado opera relações entre unidades linguísticas no interior do
discurso ou entre a materialidade discursiva e o seu exterior (por exemplo,
entre o que se atualiza no discurso e o conhecimento pressuposto como
partilhado pelos interlocutores). O significado do artigo se constrói no
discurso, mas vai além dele, ou depende de algo que se acha fora de seu
domínio. Põe em jogo o interior e o exterior do discurso.
O enunciado (1) pode ainda ser analisado de tal
modo, que seu plano de expressão se manifeste. Nesse plano, discriminam-se as
unidades sonoras de que se compõe cada uma das palavras que integram o
enunciado. Vejamos, então, o que se dá em (1b):
(1b) O/
/m/ /e/ /n/ /i/ /n/ /n/ /o/ /X/ /o/ /R/ /a/ /v/ /a/ /m/ /u/ /i/ /t/ /o/.
Não sigo rigorosamente a transcrição
fonológica, se o fizesse, deveria sobrepor um til ao “i” em “muito”. Mas
desconheço o modo como fazê-lo pelo computador. De qualquer modo, claro fique
que esse “i” de “muito” é nasalizado.
A análise, em sua totalidade, revela que a
produção da significação depende da relação recíproca entre esses dois planos
de articulação: no segundo plano, são necessários determinados padrões de
combinação de fonemas para a produção de unidades significativas. Assim, “vela”
apresenta um padrão de combinação de fonemas adequado ao sistema gramatical do
português, mas uma sequência como “eavl” infringe os padrões possíveis. Essa sequência não é uma palavra, e por duas
razões: em primeiro lugar, não apresenta uma estrutura fônica, não foi calcada
sobre um padrão estrutural que permite construir um exemplar de estruturas
fônicas em português (em “vela”, temos a combinação CVCV
(consoante-vogal-consoante-vogal). O problema de “eavl” não é propriamente a
combinação de duas vogais iniciando sílaba (o português admite essa combinação,
como se vê em “eira”, “eivar”, “eixo”, etc.); o problema é que o português não
admite sílaba sem vogal. Quando se dá o encontro consonantal, como o “vl”,
necessário é que haja uma vogal, que é o núcleo da sílaba. Não há, em
português, sílaba sem vogal. Em segundo lugar, “eavl”, não, sendo uma palavra,
não comporta qualquer significado. A importância do significado para que uma
sequência de sons linguísticos seja considerada uma unidade comunicativa é
evidente, se levarmos em conta que, mesmo uma sequência como “eavlo”, calcada
sobre um padrão fônico aceitável pelo sistema do português, não é uma palavra,
já que não se convencionou associar a ela qualquer significado. Essa forma
poderia ser um substantivo, poderia designar alguma coisa e, portanto, poderia
carrear um significado; mas a comunidade de falantes do português não teve
necessidade de inventá-la, ainda que seja uma forma estruturalmente prevista
pelo sistema de regras da língua portuguesa. Na verdade, a criação de novas
palavras é feita, sistematicamente, com base no estoque de itens lexicais já
disponíveis na língua. Isso evita a sobrecarga de memória.
As unidades mínimas do plano da expressão – os
fonemas – são desprovidas de significado. O “i” de “ilha” nada significa
isoladamente, tampouco o “lh” e o “a”. O significado se associa à estrutura
fônica, e da combinação desta com o significado resulta o signo.
Cabe notar, finalmente, que as unidades mínimas
destituídas de significado, que pertencem ao plano da expressão – os fonemas –,
se combinam para formar unidades de nível linguístico superior. No plano da expressão,
os fonemas formam sílabas, que não
são também dotadas de significado. Em “ve-la”, nem “ve” nem “la” comportam
significado. O plano da expressão apresenta uma contraparte significativa, que
é o plano do significado, onde se situam as unidades significativas. Quando as
duas sílabas “ve” e “la” se combinam, forma-se uma unidade dotada de
significado, isto é, uma palavra – “vela”.
É importante notar, contudo, que a arquitetura gramatical se constitui
apenas das unidades significativas. Essa arquitetura se organiza em níveis, os
quais se dispõem na seguinte ordem, do mais baixo ao mais alto nível.
Frase
Oração
Sintagma
Palavra
Morfema
O “a” de “vela” é, no plano da expressão, o
fonema vocálico oral baixo, central e não-arredondado; no plano do signficado,
é um morfema, chamado vogal temática,
que permite que o radical receba uma desinência de flexão de número (s).
O mecanismo da dupla articulação da linguagem
constitui um universal linguístico, isto é, existe em todas as línguas
naturais. Certamente, é uma propriedade importante, quando estamos interessados
em determinar as diferenças, de resto, evidentes entre a linguagem humana e a
enganosamente chamada “linguagem animal”. É da “linguagem dos animais” que me
ocuparei na próxima seção, com vistas a pontuar, principalmente, o que a torna
muito diferente da linguagem humana. Se queremos manter o temo linguagem para
designar os sistemas de comunicação dos animais, devemos, contudo, reconhecer
as diferenças marcantes entre essa forma de linguagem e a linguagem articulada
dos homens. Somente assim entenderemos por que muitos estudiosos insistem na
opinião segundo a qual o uso da linguagem distancia os homens do reino animal.
A faculdade da linguagem nos distingue ontologicamente das demais espécies de
seres vivos.
5.3. A linguagem animal?
Há fartas evidências de que os animais são
capazes de exteriorizar o medo, o prazer, a cólera, etc., mediante a emissão de
determinados sons ou a manifestação de gestos. Nesse sentido, eles seriam
capazes de comunicar, uma vez que podem influenciar o comportamento uns dos
outros.
Há um interessante estudo, publicado, em 1959,
pelo etologista alemão Karl von Frisch, em que é estudado o comportamento das
abelhas. Nesse estudo, o autor nos dá a saber como a obreira, uma vez tendo
encontrado uma fonte de alimento, transmite à colmeia a sua descoberta. Ela o
faz por meio de dois tipos de dança. Se a fonte de alimento está próxima da
colmeia, a abelha dança de modo circular; se, ao contrário, está distante, ela
dança de modo a contrair o abdômen (a conhecida dança do oito). É interessante
que a transmissão da mensagem é bastante precisa. Estando o alimento a 100 metros, a abelha
executa cerca de 9 ou 10 vezes, em 15 segundos, o movimento da dança, em linha
reta. Quanto maior é a distância, menos giros faz a abelha (6 giros em 15
segundos para 500 metros).
Há um ritmo definido de dança correspondente a cada distância.
Para chegar ao destino pretendido, as abelhas
se orientam pela direção da linha reta virtualmente traçada pela posição do
sol. A linha reta forma um ângulo determinado com a vertical, e esse ângulo
equivale ao ângulo formado pela direção da fonte do alimento em relação ao sol.
Sem embargo da sofisticação desse sistema de comunicação,
ele não chega a constituir uma linguagem, no sentido rigoroso do termo. Não se
equipara à linguagem humana.
Apontem-se as diferenças mais evidentes entre
os sistemas de comunicação dos animais não-humanos e a linguagem humana.
1a diferença: é evidente que a linguagem dos animais não é
produto e expressão da cultura (a cultura é uma dimensão humana por excelência).Os
animais herdam a sua linguagem juntamente com a programação genética da
espécie. Ainda que se possa defender um inatismo para a aquisição da linguagem
humana, seu desenvolvimento depende da exposição dos usuários a um ambiente
linguístico estimulante como parte do domínio sócio-cultural deles.
2a diferença: A linguagem dos animais é invariável, no tempo
e no espaço. Há sempre um mesmo tipo de informação ligado a formas mais ou
menos estáveis de expressão. A linguagem dos animais desconhece a pluralidade
de sentidos.
3a diferença: A linguagem dos animais se constitui de
índices, ou seja, um dado físico liga-se a outro dado físico por causa natural.
Não há nela signos produzidos por convenção, graças à qual o significado,
associado à forma significante, pode dessa forma destacar-se. Pode-se entender
esse fato dizendo que a linguagem dos animais não é articulada. Ela não permite
a decomposição das unidades em elementos menores distintivos de significados.
Falta, em suma, à linguagem dos animais uma
significação sistêmica. É particularmente interessante, no que tange a essa
carência, notar que as línguas naturais usadas pelos seres humanos permitem a
produção de um número quase infinito de combinações com base num número finito
de formas de expressão, para a produção de uma gama praticamente infinita de
significados. Por exemplo, o português, com 31fonemas (19 consoantes e 12
vogais), permite um número ilimitado de combinações para a produção de um
número vastíssimo de significados. Vejam-se, por exemplo, as formas “gato”, “pato”, “cato”, “dato”, “fato”, “bato”, “rato”, “mato”, etc., nas quais se conservou a estrutura “ato” e trocaram-se
os fonemas iniciais. Cada escolha feita produz um resultado significativamente
diferente. Por isso, todas as escolhas operadas pelos falantes são portadoras
ou produtoras de significado. Nada na língua é por acaso. Escolhas produzem
significados. Quem escolhe inserir “garoto” em vez de “rapaz”, “ancião” em vez
de “velho”, por exemplo, no ambiente
“(_______) está cansado” , escolhe entre várias maneiras de significar.
Retome-se, aqui, o que já explicitei
anteriormente, agora com grifo: todas as operações cognitivas – atenção,
percepção, memória, pensamento e linguagem – são interdependentes. Compreendamos
essa complexa relação mútua. Se somos incapazes de pensar, não conseguimos
aprender a usar uma língua. O uso de palavras depende de uma capacidade
intelectual. Certamente, os usuários de uma língua precisam saber muitas coisas
mais do que apenas dominar as regras do sistema gramatical da língua (as regras
ou princípios que governam a construção dos arranjos linguísticos), a fim de
serem comunicativamente competentes no uso dessa língua.
Há, ao menos, segundo Simon Dik (1978), quatro
competências que são mobilizadas no uso da língua – competências, entenda-se,
indispensáveis para que os falantes sejam bem-sucedidos no uso da língua, ou
seja, para que consigam produzir e interpretar de modo adequado as expressões
linguísticas. Além da competência linguística, que é a capacidade que têm os
usuários da língua de produzir e interpretar enunciados de modo correto, nas
mais diversas situações de interação, de outras quatro competências ou
capacidades depende o sucesso sociocomunicativo dos usuários, quais sejam: a capacidade espistêmica, a capacidade lógica, a capacidade perceptual e a capacidade social. Vou-me cingir a
definir apenas duas. A capacidade
epistêmica consiste na capacidade que tem o falante de construir, manter e
trabalhar uma base de conhecimento organizado. Ele extrai conhecimento das
expressões linguísticas, estoca esse conhecimento de modo apropriado na
memória, ativa-o para interpretar expressões linguísticas ulteriores. A capacidade perceptual habilita o
falante a perceber seu ambiente e a derivar de suas percepções conhecimento, a
fim de usá-lo quer para produzir, quer para interpretar expressões
linguísticas.
Também é indispensável ao uso adequado de uma
língua saber as regras ou convenções sociais que governam os padrões de interação
linguística, nas mais diversas situações de uso dessa língua. Esses padrões de
interação são social e culturalmente determinados. Os falantes não só sabem o
que dizer, mas também como dizê-lo a um interlocutor em particular, numa
situação de interação específica, a fim de atingir objetivos determinados.
Essas regras sociais, em suma, governam o comportamento linguístico dos
falantes, de modo a adequá-lo às diferentes situações de interação.
Não há dúvida de que a linguagem verbal
influencia o pensamento. As palavras, veremos, nos liberta da relação imediata
com o mundo exterior: podemos tornar presentes à consciência objetos ausentes
de nosso campo de observação; podemos, através delas, reportarmo-nos ao
passado, com o auxílio da memória; projetarmo-nos para o futuro, ou mesmo
criá-lo na imaginação.
A próxima seção é destinada a considerações
sobre a natureza da consciência e sua relação com o signo. Na seção posterior e
última, examinarei a relação entre a palavra (ou linguagem verbal) e a
realidade. Aí, esforçar-me-ei por mostrar de que modo a linguagem nos humaniza.
O domínio da cultura não passará ao largo de minhas insistências em fazer ver o
lugar demasiado representativo que a palavra ocupa na existência humana.
6. O problema da consciência
A consciência é um domínio da realidade cuja
compreensão ainda é incipiente nas ciências do cérebro. O livro do renomado
neurocientista António Damásio estampa um título ilustrativo desse estado de
ignorância, sob muitos aspectos, em que se encontram as neurociências – O mistério da consciência (2000).
Nessa obra, Damásio observa que, em estágios
antigos da evolução, os nossos ancestrais ignoravam o fluxo e o refluxo dos estados
internos, incluindo os que chamamos de emoções. Esses estados eram reguladores
da vida; eles desencadeavam ações vantajosas, interna e externamente, mas os
organismos que as realizavam nada sabiam sobre a existência dessas ações e das
operações nelas envolvidas, já que sequer tinham conhecimento de sua própria
existência como indivíduos.
Os organismos, evidentemente, tinham corpo e
cérebro, e o cérebro tinha alguma representação do corpo; a vida estava
presente e também a sua representação, mas faltava o dono legítimo de cada vida
individual (um self). Esse dono não sabia que a vida existia, porque a natureza
ainda não o tinha inventado. O ser vivo existia, mas não o conhecimento. A
consciência, portanto, não havia começado.
Consoante Damásio, o surgimento da consciência
– o que ela é ainda não sabemos, embora intuamos sua natureza – depende da
aquisição, pelos cérebros, da capacidade de “contar um história sem palavras,
uma história de que existe vida pulsando incessantemente em um organismo” (p.
51). A consciência, como se pode depreender daí, surge no instante em que o
organismo se percebe como uma coisa viva. Mas essa história contada sem
palavras deve incluir a percepção de que os estados do organismo, nas
fronteiras do corpo, são continuamente afetados, alterados pelos contatos com
os objetos, nas relações com os eventos em seu meio, ou também por pensamentos
e processos internos responsáveis pela dinâmica da vida.
O acontecimento da consciência é a própria
emersão de um self que se manifesta como sentimento de um sentimento. Não
poderei, aqui, descer a pormenores sobre a noção de self em Damásio. Remeto o
leitor ao livro referido. Todavia, parece certo dizer que esse self ainda não é
uma identidade pessoal, um “eu” tal como o pensamos hoje.
6.1. A consciência à luz da fenomenologia de
Peirce
Charles Sanders Peirce foi filósofo, lógico,
tendo se interessado também por estudos em semiótica (a ciência que estuda os
diferentes sistemas de signos). Descerei a expor a contribuição fenomenológica
de Peirce ao estudo da consciência. É no lugar de abertura ao Ser que pretendo
tratar do problema da consciência humana, à luz da fenomenologia peirciana.
É nessa abertura que começa a fenomenologia de
Peirce. Nada há mais aberto à observação humana do que os fenômenos. Começarei, portanto, por considerar o que são os
fenômenos. Eles são nosso ponto de partida.
Fenômeno é, segundo Peirce, qualquer coisa que
se apresente ou que esteja presente à nossa mente, de algum modo. Esse modo
pode ser em sua exterioridade, como uma batida na porta (percebemos o ruído),
em sua interioridade, como uma dor no estômago, um desejo ou expectativa, uma
ansiedade. O fenômeno é também o que está presente na forma de um sonho, de uma
ideia geral e abstrata da ciência; portanto, para Peirce, a fenomenologia é a
descrição e análise de todas as experiências que se abrem para o homem em seu
cotidiano, em cada instante, em todo lugar.
Começando na abertura ao real, a fenomenologia
dispensa qualquer julgamento; é livre de pressupostos que classificariam os
fenômenos em falsos ou verdadeiros, reais ou ilusórios. Para Peirce, fenômeno
recobre tudo que está presente à mente, quer seja uma coisa real ou não.
Ora, calcada sobre esse estado de liberdade, em
que tudo que esteja presente à mente é um fenômeno do qual se deve afastar
prejulgamentos, ao fenomenologista impõe-se a tarefa de estabelecer categorias
gerais, simples, elementares e universais a todo fenômeno. Essa tarefa depende,
contudo, de que ele identifique as características que se ligam a todos os
fenômenos e a todas as experiências.
Trata-se de um empresa extremamente difícil,
dado que tudo que se nos apresenta à observação se reveste de múltiplas formas,
se envolvem em um complexo de sensações, e também se enredam nas malhas das
interpretações que fazemos, inevitavelmente, das coisas. Com frequência, os
fenômenos se nos dão à mente investidos de interpretações; eles não se
apresentam de modo “puro”.
Qual é, então, a tarefa da fenomenologia,
segundo Peirce? Ela deve discriminar as diferenças nos fenômenos com base na
observação direta deles. Mas deve também generalizar as observações de tal
modo, que seja possível estabelecer certas classes de características muito
vastas, universais em todas as coisas que se apresentam a nós.
Durante essa tarefa, a fim de que ela logre
êxito, é necessário o desenvolvimento de três faculdades:
1) a capacidade contemplativa, a qual consiste
em “ver” com o espírito o que está em face dos olhos;
2) a capacidade de discriminar diferenças nas
observações feitas;
3) a capacidade de generalizar as observações
em classes ou categorias abrangentes.
Peirce se lançou àquela empresa e estabeleceu
as categorias universais, como elementos formais do pensamento, dispensando
atenção acurada aos próprios fenômenos. Não deixa de nos surpreender que foi
por esse caminho que ele conseguiu examinar o modo como as coisas aparecem à
consciência. Os fenômenos mentais situavam-se no início da análise peirciana.
Foi pela cuidadosa e cirúrgica observação de
tudo o que acontece que Peirce identificou as características elementares e
gerais da experiência. Essas características tornam-na possível.
Antes de prosseguir, será necessário definir o
conceito de experiência. Por
experiência, com Peirce, deve-se entender tudo aquilo que exerce sobre nós
algum efeito, que se impõe ao nosso reconhecimento. Peirce, não confundindo
pensamento com pensamento racional (deliberado), que é uma das formas possíveis
de pensamento, concluiu que tudo que se faz presente à consciência o faz
segundo uma gradação de três propriedades, as quais correspondem aos três
elementos formais de toda experiência, quais sejam, a qualidade, a relação e a
representação. Esses termos foram,
posteriormente, substituídos por outros correspondentes, que são primeiridade, secunridade e terceiridade.
Essas três categorias lógicas, que também se
aplicaram à natureza, far-nos-ão compreender que, para o homem, o mundo se
apresenta e se traduz como linguagem. Vou enfocá-las em tópicos separados, mais
adiante.
Necessário é acrescentar que Peirce não reduz a
consciência à razão. Para ele, a razão é uma dimensão da consciência. Ao me debruçar sobre a realidade da consciência, não estarei
interessado em determinar sua essência, em dizer o que ela é. Sartre a entendia
como um nada. E poderíamos assumir que ela é uma espécie de lago sem fundo,
embora não um vazio, já que habitada por ideias. Mas essas ideias se acham em
diferentes camadas cujo grau de profundidade é bastante variável. Ademais,
essas ideias são móveis e assim permanecem.
A razão é uma camada da consciência, a mais
próxima de sua superfície. Peirce entendia a consciência como uma totalidade na
qual não há senão estados mutáveis. A razão sofre, continuamente, a influência
de estados que escapam ao nosso controle. Esses estados internos provêm das
profundezas de nosso mundo interior. Há também influência dos estados externos,
que dizem respeito às forças objetivas, que atuam sobre nós. Essas forças
encontram origem nas percepções, as quais nos inundam, a todo momento, pelo
simples fato de estarmos vivos.
Há também forças provenientes das relações
intersubjetivas – relações de amizade, amor, ódio, etc. Trata-se, em geral, de
relações sociais.
Uma vez que a consciência não é uma alma ou
espírito etéreo, mas o lugar onde interagem formas de pensamento, as três
categorias, já mencionadas, propostas por Peirce são modos de processamento do
pensamento-signo na mente.
1.
Primeiridade
Se há uma afirmação a respeito da consciência
que encontra apoio nas filosofias fenomenológicas, essa afirmação consiste em
que a consciência é presentidade no estar presente. Quer-se dizer com isso que
a consciência é consciência imediata, pura presença tal qual é. É pura
qualidade de ser e sentir aqui e agora. A consciência imediata caracteriza-se
por uma impressão, um sentimento indivisível, não analisável e frágil.
Tudo que aparece à consciência de alguém
imediatamente é tudo aquilo que está na sua mente no momento presente. Toda a
nossa vida é dada, é aprendida no momento presente; ela está no aqui e agora.
Uma vez assumindo que a vida está inteira no
presente, no momento em que nos perguntamos sobre o que está nesse presente (o
instante em que escrevo esta linha, por exemplo), a pergunta vem num momento
posterior, em outro presente. O primeiro presente já não é mais e o que
permanece dele é algo transformado. Todo presente é fugaz à consciência
imediata.
Esse sentimento que é a própria qualidade da
consciência imediata, ainda que lhe dê certo sabor, é justamente aquilo que se
oculta ao nosso pensamento. Eis o paradoxo em que se funda esse sentimento: uma
vez que a existência humana envolve consciência do tempo, toda vez que
produzimos um pensamento, ocorre um deslocamento de nós mesmos no tempo; esse
deslocamento põe-nos fora do domínio do sentimento que buscamos apreender pelo
pensar.
Atentemos para a descrição que nos dá a saber
Lúcia Santaella, em seu O que é
semiótica (2005), a fim de que nos fique clara essa presentidade da
consciência:
“(...) aí está você, em algum lugar, provavelmente sentado, lendo este
livro. Tome agora o que está em sua consciência em qualquer um dos seus simples
momentos. Há primeiro uma consciência geral da vida. Então, há a reunião de
pequenas sensações epidérmicas, de sua roupa. Há, então, o senso de qualidade geral
do lugar em que você está. Há então a consciência de estar só, se estiver só.
Então, há a luz, uma sensação muito vaga do cheiro e da temperatura do ambiente
e do seu corpo, um certo gosto na boca... Então, as letras impressas neste
livro, as quais, em qualquer um dos instantes, serão a mera apreensão de um
simples traço. Há, ainda, um conjunto de noções, o provável sentimento de estar
compreendendo o que estou tentando lhe transmitir (...)”.
(p. 67)
É claro que há um sem-número de coisas mais em
nossa consciência: lembranças vagas, desejos indiscerníveis, sentimentos muito
gerais de estar bem ou mal. O fragmento referido ajuda-nos a ver que a nossa
vida inteira se faz presente num lapso de instante em que estamos a existir. É
a existência que se nos dá à consciência imediatamente no instante presente.
Agora, alcançaremos um instante de iluminação
sobre o modo como a linguagem se relaciona com a consciência. A linguagem é,
indubitavelmente, o principal meio pelo qual conhecemos a realidade. Esse
conhecimento que nos possibilita a linguagem é sempre analítico. A fim de
descrever o que supostamente ocorre em nossa consciência num dado momento, a
autora precisou segmentar em partes a própria consciência que é objeto da
descrição. E não há outro modo de proceder, dada a natureza da linguagem
verbal. A função de simbolização que lhe é fundamental opera sempre um “corte”,
uma análise no continuum de nossas experiências de mundo.
É preciso dizer, no entanto, que a consciência
de um momento nunca se apresenta fragmentada. As parcelas que se revelam pela
análise operada na descrição não são partes do sentimento tal como ele está no
exato momento em que está presente. Pensemos, pois, na relação da criança em
tenra idade com o mundo, naquele momento em que ela ainda não é capaz de fazer
distinções, no momento em que ela não se tornou consciente de sua própria
existência. O mundo, nessa relação, é primeira presença, é imediaticidade, é
fonte de vivacidade, se revela num sentimento fresco e evanescente.
Sumariando, compreende-se – creio, sem
dificuldade – que a consciência na categoria de primeiridade é a primeira
apreensão das coisas, mas uma apreensão que, para nós, já aparece traduzida.
Ela é uma espécie de película muito fina de mediação entre nós e os fenômenos.
Consoante nota bem Santaella,
“Qualidade de sentir é o modo mais imediato, mas já imperceptivelmente
mediatizado de nosso estar no mundo. Sentimento é, pois, um quase signo do
mundo; nossa primeira forma rudimentar, vaga, imprecisa e indeterminada de
predicação das coisas”.
(p. 92)
Sendo nossa forma primeira e rudimentar de
predicação das coisas, o sentimento é uma forma primária e vaga de dizê-las; é
nossa primeira forma de linguagem.
2.
Secunridade
A categoria de secunridade, segundo Peirce,
assume a existência de um mundo sensível independente do pensamento. A
secunridade revela a vida cotidiana, revela as formas como nós nos relacionamos
com as coisas, assumindo-as como fatos externos a nós.
Uma certeza se nos impõe imediatamente no modo
da secunridade: o simples fato de
existirmos redunda em que, a cada instante, somos consciência reagindo ao
mundo. Existir é ação sobre o mundo; é sentir também a ação dos fatos
externos a nós sobre a nossa vontade. Ação-reação é o movimento da existência.
O que é existir? Penso eu que é estar-em-relação-com,
mas numa relação que é dinâmica e significativa. Enquanto existimos, tomamos
parte numa série infinita de determinações do universo; estamos, a todo
momento, resistindo e reagindo, ocupando espaços particulares, confrontando-se
com outros corpos. Heidegger entendia a existência como “ser fora de si”, um
estar-adiante-de-si, sempre lançado no mundo, sempre projetado para o futuro.
Sartre pensava-a como ser diferente do que se é. Existir é ser sempre
atormentado pelo nada, sempre ansioso, sempre ser-para-a-morte. Nesse sentido,
só os seres humanos existem verdadeiramente. Quero, contudo, contrapor a essa
visão filosófica moderna, a de Sponvile (2006), que inverte a máxima sartreana:
a essência precede a existência. Em síntese, escreverá Sponville: “existir é
insistir: porque é continuar a ser e a agir” (p. 92). Existir, para Sponville, é persistir no ser,
é resistir, é esforçar-se no presente, no mundo que nos contém. Existir é esforço
por preservar uma vida que se sabe frágil e finita. Sua visão parece afinar-se
com a ideia de confronto implicada na existência, tal como a pensa Peirce.
A factualidade da existência repousa sobre a
corporeidade material. É a matéria que faz face às influências ou pressões da
realidade objetiva. A qualidade do sentimento, não resiste ao objeto material;
é puro sentir, antes mesmo de ser percebido num “eu”.
Toda sensação é secunridade, porque ação de um
sentimento sobre nós e nossa reação específica. É comoção do eu para com um
estímulo. A sensação encerra o sentimento e a força da adesão desse sentimento
num indivíduo. Esse estar acordado é consciência de uma reação, e não pode ser
confundida com cognição. A apreensão do estado de vigília se dá por meio da
percepção direta, que é anterior ao pensamento.
Só há consciência do eu pela consciência do
não-eu ou do outro. Tornamo-nos cônscios de nosso eu na relação consciente com
o não-eu.
Na secunridade, a experiência é o próprio curso
da vida, e o mundo é o conteúdo
interiorizado na experiência. A experiência é o conteúdo em nós que o fluxo
da vida nos impele a pensar. Por isso, é a experiência que move o pensar. E
pensamento é mediação interpretativa entre o nosso eu e os fenômenos. È na
categoria da terceiridade que o pensamento toma forma, conforme veremos.
Antes de por fim a este tópico, faz-se mister
dizer que agir, reagir e interagir são modos concretos de dizer o mundo; é
interação dialógica do homem com sua historicidade.
3.
Terceiridade
Se, conforme vimos, a primeiridade é a categoria
da originalidade irrepetível da experiência e se a secundidade confere à
experiência uma qualidade brutal, pois supõe luta e confronto, a categoria da
terceiridade, síntese intelectual de ambas as categorias precedentes,
corresponde à categoria da inteligibilidade.
Na terceiridade, formam-se os pensamentos em
signos, por meio dos quais representamos e interpretamos o mundo. Nessa
categoria, realizam-se sínteses. Dada a experiência da sensação de aspereza,
essa sensação é da ordem da primeiridade. A parede, como lugar e no tempo, em
cuja superfície sentimos a aspereza, é a segundidade. A síntese intelectual,
elaborada pela cognição – a aspereza da parede, a aspereza na parede, é a
terceiridade.
O signo ou a representação é o modo mais
proeminente por meio do qual nós, seres humanos, estamos lançados no mundo. Em
face de qualquer fenômeno, a consciência produz um signo, ou, conforme entende
Peirce, um pensamento que é mediação inegável entre nós e os fenômenos. Essa
mediação se dá na percepção. Perceber não é outra coisa senão interpretar. É
traduzir um objeto dado à consciência em julgamento de percepção. Há sempre um
lugar de interpretação interposto entre a consciência e o objeto de percepção.
O simples olhar já está impregnado de interpretação, porquanto é resultado de
uma elaboração cognitiva.
O homem só conhece o mundo, porque, de algum
modo, o representa e só interpreta essa representação por meio de outra
representação, que Peirce denomina de interpretante. Por isso, conhecer
um signo implica conhecer o que é representado pelo signo. Para conhecer e
conhecer a si mesmo, o homem se faz signo e só interpreta seus signos
traduzindo-os em outros signos.
Experimente, leitor, explicitar o significado
do signo “casa”, ou seja, defina seu significado. Para fazê-lo, terá de
recorrer, impreterivelmente, a outros signos, com os quais construirá um
enunciado descritivo. Não definimos o significado de uma palavra apontando para
o seu referente, isto é, o objeto “casa” do mundo real. Nesse caso, situamo-nos
no domínio da referência exofórica, que relaciona o signo com o objeto
designado. É interessante ver que o significado, na medida em que medeia a
relação entre o significante e o referente (a coisa designada), é responsável
pelo contato de nossa consciência com o mundo. O significado é um ‘dado’ de
nossa consciência, que, no entanto, pelo signo, vincula-a ao mundo exterior. O
significado está de permeio entre consciência e mundo.
Compreender um signo é explicitar seu
significado; é explicitar a representação que ele comporta. Compreender,
interpretar é o processo pelo qual traduzimos um pensamento em outro pensamento
num movimento incessante, já que só podemos pensar um pensamento em outro
pensamento.
Lembro que o signo, de um lado, representa uma
coisa que está fora dele; e, de outro lado, remete-se a alguém em cuja mente
evocará um outro signo que traduz o significado do primeiro signo. Todo signo,
para ser interpretado, tem de ser traduzido em outro signo, e assim ad
infinitum.
Todo o desenvolvimento deste texto é motivado
por minha convicção de que não há possibilidade de pensamento conceitual fora
dos quadros da linguagem verbal. Sigo, de perto, autores como o linguista José
Luiz Fiorin (2005) e o psicólogo Vygotsky. Mesmo aqueles que sustentam existir
uma forma de pensamento pré-verbal não podem recusar a indissociabilidade entre
linguagem e pensamento. O historiador Adam Schaff observou, corretamente, que
linguagem e pensamento são dois aspectos de um mesmo processo: o do
conhecimento do mundo, o da reflexão sobre esse conhecimento e o da comunicação
dos resultados obtidos. Vygotsky sustenta que, ao longo do processo evolutivo,
o pensamento e a linguagem se soldaram num todo inquebrantável. Sua compreensão
da relação entre linguagem e pensamento confirma nossa intuição ordinária, já
que é inegável que, para refletirmos sobre os conteúdos elaborados por nosso
entendimento, devemos usar palavras. Mesmo quando nosso objeto de reflexão é a
própria linguagem, não há outro meio de pensá-la senão pelo uso da palavra. Não
me parece exagero dizer que pensar é falar; mas falar não deve ser tomado aqui
como ‘articular sons linguísticos oralmente’, mas sim como ‘concatenar
enunciados no silêncio da mente’. Pois, quando não exteriorizados pela fala,
que são os pensamentos conceituais senão concatenações de signos em nossa
mente?
No tangente à indissociabilidade entre
pensamento conceitual e linguagem, pondera Fiorin, em Linguagem e ideologia (2005):
“(...) se dissermos que o que caracteriza o pensamento humano é seu
caráter conceptual, o pensamento não existe fora da linguagem. Há processos
mentais que escapam ao nível puramente linguístico, mas, a partir de certa
idade, o pensamento torna-se predominantemente conceptual e este não existe sem
uma linguagem”.
(p. 33)
Mistério do signo: seu significado. O significado é uma face do signo que se desloca
incessantemente, ou seja, é sempre outro signo ou pensamento. Tentemos
compreender esse deslocamento. Tomemos o signo “casa” e busquemos definir seu
significado. Pouco importa que a definição seja vaga, para o que tentarei
demonstrar aqui. Então, definamos “casa” como “o lugar onde as pessoas moram”.
A definição capta mais ou menos o significado de “casa”. Note-se que o
significado se desdobra numa combinatória de outros signos, que constituem o
enunciado da descrição. Mas não se deve concluir que o significado resulte da
soma do significado de cada palavra do enunciado. O significado de um enunciado
nunca é produto da soma das palavras que o constituem. Não obstante, o
significado de “casa” se desloca para uma combinatória de outros signos que, de
algum modo, representam uma parcela de nossa experiência com o objeto “casa”.
Assim, “casa” denota um lugar, esse lugar serve de moradia, há pessoas, em
geral, que a habitam, etc. O que “casa” codifica é alguma parcela de nossa
experiência com o objeto representado. Assim, para esclarecer o significado de
qualquer palavra, estamos aprisionados na dinâmica da significação; não há como
“sair da linguagem” para explicá-la ou para compreender o mundo e dizê-lo
(significá-lo). Temos de recorrer a palavras, que puxam outras palavras, que
demandam outras palavras, e assim sucessivamente. Uma consulta ao dicionário
prova ser esse o caso.
Há miséria e grandeza em nossa condição como
seres simbólicos. Estamos condenados a significar. Consoante nota Santaella,
“Somos no mundo, estamos no mundo, mas nosso acesso sensível ao mundo é
sempre como que velado por essa crosta síginica que, embora nos forneça o meio
de compreender, transformar, programar o mundo, ao mesmo tempo usurpa de nós
uma existência direta e imediata, palpável, corpo a corpo e sensual com o
sensível”.
(p. 81)
A consciência interpretativa é produto de nossa
condição de seres que traduzem um pensamento em outro. Mas não é correto supor que
ela esteja divorciada de outros dois estados possíveis da mente. Não há linha
de demarcação entre a primeiridade, a segundidade e a terceiridade.
É verdade que Peirce alarga o conceito de signo
de modo, que ele recobre qualquer coisa que se produz em nossa consciência. O
signo não é, pare ele, apenas representação na mente; pode ser uma ação ou
experiência, ou mesmo uma qualidade de impressão.
7. O significado para Vygotsky
Para Vygotsky, é o significado das palavras que
permite a elaboração de conceitos e de sistemas conceituais, de complexidade
crescente de cadeias de pensamento. Lembro que o acesso ao significado das
palavras é o momento de transição feita pela criança da inteligência prática –
sensório-motora, para Piaget – aos complexos processos de pensamento.
Ainda com base em Vygotsky, uma vez que a
natureza da linguagem é significar, segue-se daí que o desenvolvimento do
pensamento conceitual é determinado pela linguagem, no curso das experiências
sócio-culturais em que a criança está envolvida. Vygotsky percebeu bem que o
significado é um elemento necessário e constitutivo da palavra e que a palavra
sem significado não é palavra, mas um som (como são os fones de uma língua).
Ademais, ele via o significado de uma palavra como uma generalização e, como
tal, não era senão um conceito. A generalização é o próprio processo de
formação de conceito, segundo Vygotsky, no que estamos de acordo. É um ato
inegável e específico de pensamento. É forçoso, portanto, reconhecer que o
significado da palavra, ou o conceito, é também um fenômeno do pensar.
As coisas que se dão em nossa experiência
sensível não seriam totalmente conhecidas se não fossem reconhecidas pelo
pensamento humano fundado no signo. Antes da aquisição da linguagem ou durante
o desenvolvimento do processo, a criança já está sendo moldada pelas palavras
dos adultos. Ainda que, nesse período, a imagem e a palavra se confundam para a
criança, a palavra confere à imagem significado.
Quando as coisas são nomeadas pela palavra, ela
liga a ordem do real (das coisas sensíveis) à ordem simbólica (das coisas para
si), tornando aquela primeira ordem pensável e comunicável. Vale ponderar sobre
este ponto. Não se negue uma ordem do sensível, mas essa ordem só se torna
inteligível, só pode ser submetida aos processos de pensamento, quando a
palavra ou a linguagem verbal lhe impõe uma ordem. Somente quando essa ordem
sensível é estruturada numa ordem simbólica é que passa, então, a entrar a fazer
parte da consciência humana como conhecimento.
Vygotsky nos mostra que o processo de
internalização da linguagem faz confluir para um mesmo sentido o mundo
biológico e as referências do mundo sócio-cultural. Esse processo desencadeia
mudanças na relação do sujeito com a linguagem; marca as impressões culturais
nos processos cognitivos, conferindo-lhes uma dimensão humana e estruturando a
consciência e a cognição infantil.
O que é o mundo humano senão um sistema de
significados? (Azeredo, 2007, p. 17).
8. A palavra e a
realidade
8.1. O mundo humano
Note-se, de início, que, para Bakhtin, sem linguagem, não há
psiquismo, mas tão-somente processos fisiológicos, porquanto o que define o
conteúdo da consciência são fatores sociais. A consciência se constitui do
conjunto dos discursos que o indivíduo interioriza ao longo de sua vida. O
homem aprende a compreender o mundo pelos discursos que interioriza e, na maior
parte do tempo, os reproduz em sua fala.
O que chamamos de mundo humano não é a totalidade das coisas
existentes como dadas à experiência sensorial humana. O conceito de mundo não se
reduz à noção de planeta em que habitamos.
O que é, então, o mundo? O mundo só existe para os seres humanos,
porque é apenas para eles (veja-se como a linguagem nos permite transcender a
relação imediata com o mundo, pois o autor deste texto pode, sendo um ser
humano, mediante o pronome “ele”, referir-se à espécie a que pertence como
objeto de reflexão) que esse mundo pode ser nomeado. O mundo é tudo aquilo que
pode ser dito; é a totalidade ordenada passível de ser nomeada, de modo que as
coisas só podem existir para uma consciência humana na medida em que são
passíveis de receber um nome. Mas “coisas” designa não só os objetos materiais,
acessíveis à nossa experiência sensível, mas também as entidades mentais, como
ideias, sentimentos, entes imaginários, etc. Por exemplo, amor, justiça,
amizade, bem como bruxa, vampiro e lobisomem existem como objetos para o
pensamento reflexivo, por força dos nomes que lhes atribuímos. O amor existe
como conceito que faz parte do mundo criado e reconhecido por meio das
palavras.
Não há existência possível para o homem fora da dimensão
simbólica: tudo que existe
para o homem tem um nome. Aquilo que não tem nome, em última instância, não
existe, tanto no mundo exterior quanto no mundo interior da mente. O que não
tem nome não pode ser pensado; e se não pode ser pensado, não existe.
Embora a linguagem verbal seja o sistema fundamental de criação e
significação do mundo – a base fundamental da cultura e da sociedade
(Hjelmslev) -, não ignoro a existência de outras formas de linguagem, como a da
matemática, a das artes, as gestuais, etc. Aliás, a linguagem corporal é parte
constitutiva do processo de produção de nossas interações verbais. Quando
falamos, fazemos gestos com as mãos, revelamos expressões faciais, por exemplo,
franzindo as sobrancelhas quando não concordamos com o que nos dizem, etc. As
expressões de nosso corpo estão em sintonia com o significado de nossas
expressões linguísticas. Não franzimos as sobrancelhas ao mesmo tempo em que
demonstramos verbalmente contentamento. Franzir as sobrancelhas pode sinalizar
reprovação e é de esperar que se acompanhe de expressões linguísticas que
demonstrem reprovação ou insatisfação.
O mundo humano é também um gigantesco acervo de conceitos e
conhecimentos. “Os limites de minha linguagem significam os limites de meu
mundo” – escreveu Wittgenstein. Quanto mais palavras conhecemos, quanto mais
conceitos conseguimos articular, maior será o nosso mundo, maior é a extensão e
alcance de nossa consciência. A extensão de nossa linguagem é proporcional à extensão
do conhecimento que temos do mundo.
Tomemos, agora, o significado de existir. Sei bem que já o evoquei
anteriormente; mas o conceito de existência é extremamente problemático e
parece nos envolver em uma trama metafísica. Existir é, decerto, mais do que o
viver biológico. Se os animais são, se a planta é ( em-si, segundo Sartre), o
homem é ser para-si, ao que eu acrescentaria, ser-com. Existir é um movimento
relacional com o sentido, que é seu fundamento. Para o homem, existir é estar
consciente da relação com o em-si. A existência do para si (a consciência
humana), dirá Sartre, é liberdade e transcendência, pois que nega sua
facticidade tanto quanto os objetos. O homem existe sabendo o que não é. E a
relação com o sentido é sempre de abertura para um além de sua facticidade, de
sua condição natural. O sentido é lugar de transcendência do homem em relação a
essa condição, que não pode negar completamente, é claro (não pode deixar de
ser finito), mas que lhe permite continuar a existir na condição de ser-para-a-morte
(Heidegger). O conceito de “ser-para-a-morte” não é referido aqui por capricho
intelectual. Ao evocá-lo, quero salientar que, se o Dasein é constitutivamente
um ser-para-a-morte, se a morte é sua possibilidade mais autêntica, se essa
condição é fonte de angústia, não pode o homem abrir mão do sentido, de existir
tecendo sentido. Se existir é correr para a morte inevitável, se, como notara
Durkheim, a sociedade é um bando de homens que caminha em direção à morte
inevitável, o homem está condenado, ao longo dessa corrida, a produzir
sentidos, a tecer de significados as malhas de sua existência.
Um exemplo extremamente interessante que ilustra a
indispensabilidade do sentido para o existir humano é o fenômeno do suicídio.
É um truísmo dizer que somente os seres humanos são capazes de se
suicidar, mas o que daí se segue tem importância filosófica. O homem é o único
ser que, deliberadamente, pode dar cabo de sua própria vida e não deixa de ser
espantoso, para muitas pessoas, que alguém que goze de perfeita saúde
possa se matar. É possível que as razões para explicar o suicídio variem
bastante, mas vistas em conjunto, de uma perspectiva filosófica, elas indicam a
percepção pelo indivíduo da absurdidade de sua existência. O suicídio também ajuda-nos
a ver a importância da dimensão do sentido para a própria conservação da
existência. O suicídio parece testemunhar em favor do fato de que, para o ser
humano, a manutenção do viver é dependente de sua coerência simbólica. Pessoas
se matam porque a vida deixou de fazer sentido para elas.
8.2. A construção da realidade
“Não há sentido sem palavras nem mundo sem linguagem”
(W. Luijpen)
“Na palavra, na linguagem, é que são primeiramente as coisas”
(Heidegger)
Nesta seção, enfocarei, de modo especial, como a linguagem verbal
se relaciona com a realidade. Vou-me esforçar por mostrar que o que chamamos de
realidade se apresenta em formas ou níveis distintos. Não existe uma realidade
já dada, situada fora de uma relação significante entre a consciência humana e
o seu exterior. Lembro que a fabricação da realidade depende de uma complexa
interação da qual participam a cultura, a percepção-cognição e a linguagem no
domínio da práxis. A linguagem verbal não opera sozinha, portanto. Mas, nesta
seção, é do papel da palavra nesse processo que me ocuparei especificamente.
Quando nos debruçamos sobre a questão da realidade – o que se
seguirá é extensivo também à questão da verdade -, precisamos levar em conta as
maneiras como o homem se relaciona com o mundo – por exemplo, pela ciência,
pela filosofia, pela arte, pela religião, etc.
A realidade imediata é a realidade da vida cotidiana; é a dimensão
mais tangível, mais próxima de nós; é, por excelência, a realidade mesma, na
qual nos movemos como os animais se movem em seu habitat. Mas, lembro que, ao
contrário dos animais, nós não temos um habitat. Nossa capacidade de adaptação
às condições mais hostis no planeta é devedora de nossa capacidade de
transformação do ambiente. Somos a única espécie do planeta que conseguiu se
fazer presente em toda parte (isso soa até trivial para uma espécie que ousou e
conseguiu romper as fronteiras do próprio planeta em que vive).
A fim de examinar a relação entre a palavra e a realidade, será
necessário assumir o pressuposto segundo o qual o homem, não sendo um ser
meramente passivo, que tão-somente recebe as impressões no contato de seus
sentidos com a realidade exterior, é um ser que as compreende enquanto age numa
totalidade dotada de sentido para ele (é o homem que doa sentido a essa realidade).
Ademais, devemos admitir que o homem é construtor ou fabricador do mundo,
edificador da realidade. A realidade é fabricada ou construída na práxis por
sujeitos humanos numa rede interacional na qual atuam a cultura, o aparelho
perceptual-cognitivo e a linguagem.
Não se negue o fato de que o homem, imerso no viver cotidiano, não
se percebe como tal: crê estar submetido à realidade, cujas forças naturais ou
sociais se voltam contra ele e os domina. Essa questão é especialmente
interessante à sociologia (veja-se, por exemplo, o que sobre ela escreveu
Durkheim); não poderei desenvolvê-la aqui.
A existência para o homem não é a mesma existência dos demais
animais. A diferença fundamental entre a existência humana e a das demais
formas de vida repousa sobre a palavra ou a linguagem verbal.
Pelo exposto na seção em que me ocupei da consciência, pode-se
depreender que a consciência humana é uma consciência reflexiva, já que ela
pode voltar-se sobre si mesma, isto é, pode ela mesma ser objeto de reflexão de
si. Essa reflexividade da consciência só é possível – vale frisar – graças à linguagem: um sistema
simbólico pelo qual o homem constrói a realidade, estrutura suas experiências
de mundo, dando-lhes um investimento de sentido.
Graças ao poder simbólico da palavra, os seres humanos arrancam-se
da relação imediata com o ambiente biofísico, de modo a tornar presentes a sua
consciência espaços que não estão acessíveis aos sentidos.
A palavra presentifica à consciência regiões a que nossos sentidos
não têm acesso no aqui e agora. Se pronunciamos a palavra “baleia”,
imediatamente evocamos na mente do nosso interlocutor uma imagem (imagem
acústica), uma impressão psíquica do som, à qual está associado um significado.
O conjunto dessa relação dicotômica é o signo, que é sinal de uma operação que
não encontra um equivalente entre as demais espécies: a transformação de um
objeto ou coisa do mundo exterior em dado ou objeto da consciência.
Os animais não-humanos estão irremediavelmente presos aos seus
sentidos. Embora muitos dos quais sejam dotados de consciência, esta não parece
transcender as informações recebidas dos sentidos. Enquanto eles têm um meio
ambiente, o homem vive no mundo (o mundo que é entretecido de significados,
mundo que se funda no simbólico).
Devemos à palavra também a possibilidade de o homem ter criado o
tempo. Esclareça-se o que se quer dizer com isso. Não se está negando que o
tempo físico exista e que tanto o homem quantos animais dotados de consciência
tenham dele uma experiência. Mas o modo como o homem experiencia o tempo é
distinto. Em primeiro lugar, o homem – e somente ele – é capaz de segmentá-lo
num passado, presente e futuro. Filosoficamente, podemos até dizer que apenas o
presente é do domínio do ser, que o passado e o futuro se identificam ao
não-ser. Essa concepção, que é desenvolvida por Sponville, já foi esposada por
mim alhures. No entanto, a questão que me ocupa é outra. Por força da função de
simbolização da linguagem, o passado existe para o homem como representação,
como uma esfera de tempo (representada) na sua memória. Isso que chamo de
passado, ou seja, que categorizo como passado pode ser ressignificado, de modo
que sua extensão compreenda o passado da espécie humana (donde a possibilidade
de reconstruir a História, pelos registros deixados pelas gerações anteriores).
Essa reconstrução é produto de uma textualização. O mundo de que falamos, o
mundo de que se ocupam nossos discursos é mundo textualizado, o que significa
dizer que é um mundo ou um modelo de mundo que é produto da ordem imposta pelo
simbólico. Nossos textos não são como fotografias do mundo real; não fazem uma
fotocópia do mundo real; mas operam uma espécie de taquigrafia. Todas as
configurações linguísticas que dão forma aos nossos textos são expressões de interpretação.
O mundo textual não é o mundo real tal como ele nos aparece; é um mundo
reconstruído pelas lentes de sentido, lentes que podem embaçá-lo, que podem nos
fornecer uma visão deformada. O mundo de que falamos em nossos textos é mundo
interpretado. O mundo, aliás, não existe para nós fora dos domínios do sentido;
por isso, dizer o mundo é investi-lo de sentidos, é reconstruí-lo pela
interpretação que é processo de significação. O que apreendemos – por exemplo,
no caso do texto escrito, o que o leitor apreende - é o olhar que o locutor ou
escritor (em sentido lato) lança sobre a realidade ou um aspecto dela.
A palavra permite que o homem planeje seu futuro; ele sabe que há
um tempo por vir; o porvir já lhe está antecipado. O meio simbólico é o domínio onde a existência humana
acontece, onde o viver torna-se existir. Esse meio é criado pelas práticas
linguísticas no interior da cultura de uma comunidade de fala. Pela palavra, o
homem cria também um “eu”, reconhece-se como um “eu”; nesse momento, funda-se a
alteridade no interior do mundo, pois o “eu” só existe ou se reconhece como tal
na diferença confrontiva com um “outro”, ou um “não-eu”. O fundamento da
identidade é a diferença.
Por meio do uso da palavra, por meio da produção do discurso, na
dimensão das práticas culturais, o “eu” se constrói constituindo o “eu” do
outro e por esse eu-outro é constituído. Não há “eu” fora dessa relação
eu-outro-eu-do-outro, mediada e fundada pela palavra.
No domínio da linguagem verbal, o ser humano reconhece-se como “eu”
diferente do corpo. Ao contrário dos animais não-humanos, que são seu corpo, ou
que a ele estão fortemente aderidos, o homem tem um corpo. É uma espécie de
truque da linguagem – talvez, fosse melhor falar em truque do cérebro capaz de
linguagem, que o reforça – a crença de que existe um “eu” “descolado” do corpo,
que pode tomar este corpo para objeto de reflexão. Há algo mais interessante
aí: não só o corpo se torna objeto de reflexão do “eu”, mas o próprio “eu” pode
objetificar-se. Na psicologia, pode-se falar em introspecção. Por essa
atividade, o eu se ocupa dos seus próprios sentimentos e, ao fazê-lo, toma
consciência de seus estados mentais.
9. Conclusão
Não supondo que tudo que se poderia dizer sobre o assunto
discutido neste texto esteja esgotado, evidentemente, ponho-lhe termo, não sem
antes reforçar alguns domínios de conhecimento explorados. Em primeiro lugar,
espero que tenha ficado claro que se o mundo é organizado e significado pela
linguagem calcada sobre a palavra, a realidade será fundamentalmente construída
e mantida por ela. Além disso, nossa percepção do mundo é influenciada pela
língua que falamos.
Nossa língua materna está dialeticamente relacionada às condições
materiais de existência e, numa sociedade estruturada pela divisão de classes,
como a nossa, a língua está a serviço, pela produção do discurso que
materializa formações ideológicas, da reprodução das injustas condições
sócio-históricas que mantêm uma grande maioria da população impedida de
participar ativamente das esferas de poder.
Evidentemente, minha preocupação foi atingir uma totalidade que
fizesse abstração de questões sócio-históricas específicas, por exemplo, como
de que modo a linguagem se relaciona com a ideologia, de que modo o discurso
contribui para reproduzir e transformar as estruturas de dominação, etc. Minha
preocupação consistiu em perfurar certas crenças empedernidas que levam as
pessoas, em geral, a assumir simplesmente que a língua que usam no dia-a-dia só
lhes serve de meio para comunicar seus pensamentos a outrem.
Não poderia neste texto tratar com acuro do modo como as práticas
culturais enformam os processos de construção linguística da realidade. É
interessante notar que nossa visão, nossa audição, olfação e gustação são
moldados culturalmente. Essas sensações são codificadas de modos diferentes nas
diversas línguas. Esse fato nos levaria a contemplar a hipótese de Sapir-Whorf,
que se apresenta sob duas formas: uma forte e uma fraca. A versão mais fraca e
mais aceita diz que a estrutura da língua falada por um indivíduo influencia a
percepção e a lembrança. Sapir-Whorf também sustentaram que, de certo modo,
falantes de línguas diferentes teriam visões de mundo diferentes, o que
significa dizer que a realidade não seria a mesma para comunidades linguísticas
diferentes. Um falante de francês veria o mundo de modo relativamente diferente
de um falante de inglês, e assim por diante. Esse é um tema muito interessante
e que nos fornece muitas questões sobre as quais pensar; por isso, a ela seria
necessário destinar outro texto.
De tudo que se expôs, creio ser possível concluir que a realidade
é a dimensão que nós produzimos dialeticamente quando nos relacionamos com a
materialidade do mundo por meio do sistema de significação de que nos servimos
para organizá-lo. Esse sistema de significação é produto de nossas experiências
culturais, ao mesmo tempo em que serve para torná-las possíveis. A base
da cultura é de ordem simbólica.
Libertos estejamos da visão instrumentalista da linguagem, podemos
compreender claramente que, antes de servir à comunicação, a língua é o ‘lugar’
de construção interacional de sentidos, ‘lugar’ de significação do mundo, é
lugar de emergência do próprio real entretecido de significados que constituem,
eles mesmos, seu fundamento.