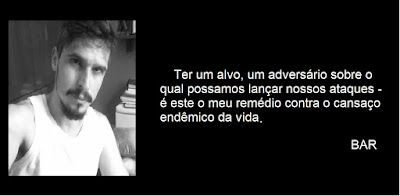Ontem conversávamos sobre o ser ateu e você me
contava de sua impaciência com pessoas que insistem em importuná-la,
tentando dissuadi-la de sua postura
intelectual em face da existência. Querem fazê-la dobrar-se diante de uma
verdade inabalável, indiscutível, insuspeitável e absoluta. Elas se cuidam
porta-vozes da verdade atemporal ou eterna, que provém de um Ser transcendente
ao qual a inteligência humana deve se submeter. Eis que lhes apresentamos, em
confronto, a filosofia – ou, melhor seria, a
atitude filosófica. A filósofa brasileira Marilena Chauí a define como uma
recusa a aceitar o senso-comum, as crenças, opiniões e valores correntes da
vida cotidiana, que se nos são apresentados como estabelecidos e
inquestionáveis. A esse aspecto negativo na definição do termo, Chauí
acrescenta um aspecto positivo, a saber, o fato de a atitude filosófica ser uma
interrogação sobre o que são as coisas,
os fatos, as ideias, os valores, sobre quem somos nós. Também – ensinará a
filósofa – a atitude filosófica encerra, além da pergunta “o que é?”, as
perguntas “por que é?, “como é?. E eu acrescentaria o “para que é?”. Em suma, o
que apresentamos a essas pessoas que vivem confortavelmente no mundo, no colo
de sua “verdade” salvífica é a capacidade legitimamente humana de questionar,
de duvidar.
Durante nossa conversa, eu lhe contei de minha
experiência recente quando me vi envolvido num debate intelectualmente árduo
sobre Deus e a descrença nele com pessoas para as quais os livros são
permanentemente um estranho. Em tais circunstâncias, argumentar torna-se uma
tarefa de Sísifo. E você bem o sabe, amiga. Por isso, antes de dar-se o
incômodo de defender suas posições, melhor será interrogar seu interlocutor
sobre quantos e quais livros já leu. Do contrário, é como arar terras
inférteis. Um debate só prospera quando há mentes que o impulsionem; em face de
pessoas cujos espíritos parecem estar atrofiados ou paralisados, o debate, se
não se torna impossível, torna-se, certamente, improdutivo.
Vou direto ao assunto deste texto. Antes,
porém, preciso lembrá-la de que também lhe disse que me tornei ateu não porque
meu nascimento me legara certa dose de sofrimento (do qual não tenho remota
lembrança), mas porque descobri a filosofia. E essa descoberta exerceu um
efeito psicológico em mim à guisa de uma Iluminação (intelectual). A filosofia
me permitiu a revelação, nada semelhante à suposta revelação de Deus. Trata-se
de uma revelação tangível, visceral, que me lançou uma lucidez sobre alma,
ajudando-me a viver melhor. Não me precipito em afirmar que ela foi responsável
por me desenterrar da cova da depressão onde eu jazia ou - se preferir outra imagem que exprime bem
o sofrimento que acomete uma pessoa deprimida – por me resgatar das regiões
abissais onde eu estava me afogando.
Hoje, há pouco, encontrei num capítulo de um
livro do filósofo e ex-ministro da França Luc Ferry uma exposição clara e
didática (porque, segundo o próprio autor, destinada a leitores que pouco sabem
de filosofia) sobre o lugar da filosofia na vida do ser humano. Lendo o texto,
encontrei nele as razões por que a filosofia abriu-me o caminho de minha
salvação. Em tempo, você verá com que sentido emprego esta palavra. Não se
trata, evidentemente, de uma salvação no sentido que lhe dá a religião, porque
ela não é suspeita ou incrível; ao contrário, ela pode ser bastante crível,
porque tangível, porque real.
Espero que eu consiga não só dar a saber a você
e aos possíveis leitores que se dispuserem a acompanhar-me na leitura destas
linhas as razões pelas quais a filosofia provocou-me um terremoto nas
estruturas cognitivas de minha mente, libertando-me dos esquemas rigorosos e
herméticos com que eu, antes, ainda psicologicamente dependente da muleta
religiosa, interpretava a realidade e vivia a vida, como também lhe estimule (e
nos leitores) o irresistível interesse em ler o livro de Luc Ferry. Meu
propósito é também compartilhar leitura, hábito que não abandono e que cuido
seja humanamente profícuo. É quando se me insufla o espírito docente que me
incita a aprender mais quando me envolvo em atividades que promovem o saber.
Aprender em conjunto, aprender compartilhando... é disso que se trata.

O livro de Luc Ferry cujo primeiro capítulo há
pouco li e que me orientará as reflexões que doravante apresentarei é Aprender a viver – filosofia para os novos
tempos (2010). O primeiro capítulo intitula-se de O que é a filosofia?. Nele, o
autor procurará ensinar ao leitor incipiente em filosofia ou que quase nada
dela sabe, o que é filosofia. Definir filosofia é já um grande e primeiro
desafio para qualquer especialista na área e o autor o reconhece desde o
início. É preciso, de antemão, suspeitar da validade do modo como modernamente
a filosofia vem sendo definida, que, segundo o autor, é um modo reducionista.
Nas palavras de Ferry:
“Uma das principais extravagâncias do período contemporâneo é reduzir a
filosofia a uma simples “reflexão crítica” ou ainda a uma “teoria da
argumentação”. A reflexão e a argumentação são, sem dúvida alguma, atividades
altamente apreciáveis. É verdade que são mesmo indispensáveis à formação dos
bons cidadãos, capazes de participar com alguma autonomia da vida da cidade.
Mas trata-se aí apenas de meios para outros fins diferentes da filosofia – pois
esta não é nem instrumento político nem muleta da moral”.
(p. 20)
O filósofo não nega que “reflexão crítica” e
“um modo de argumentar” sejam partes indispensáveis a todo empreendimento
filosófico. Melhor dizendo, é próprio da filosofia ser uma atividade de
pensamento, que visa à reflexão crítica e que se fundamenta numa argumentação rigorosa.
No entanto, segundo Ferry, - e isso ficará evidente adiante – não consistem
essas etapas o cerne da filosofia, não são elas que a definem como um campo do
saber específico. O que distingue a filosofia de outros campos do saber? Alguns
dirão que são as questões que levanta. A filosofia ocupa-se com os fundamentos
da realidade, visa a atingir o universal, representa ela um esforço para chegar
às raízes dos problemas. Na filosofia, busca-se atingir a totalidade do
sentido. Luc Ferry é mais claro, nesse tocante, aos nos patentear, afinal, a
questão fundamental sobre a qual se constroem os diferentes sistemas
filosóficos. Leiamos este passo:
“Ela [a filosofia] parte de uma consideração muito simples, mas na qual
se encontra latente a interrogação central de toda filosofia: o ser humano,
diferentemente de Deus – se é que ele existe – é mortal ou, para falar como os
filósofos, é um “ser finito”, limitado no espaço e no tempo. Mas,
diferentemente dos animais é o único que tem consciência de seus limites. Ele
sabe que vai morrer e que seus próximos, aqueles a quem ama também. Ele não
pode, portanto, evitar interrogar-se sobre essa situação que, a priori, é inquietante, até mesmo
absurda e insuportável. Certamente é por isso que ele se volta de imediato para
as religiões que lhe prometem a “salvação”.
(p. 21)
O homem está no centro das preocupações
filosóficas. É a condição humana que demanda
reflexão filosófica. Segundo Ferry, “a equação “mortalidade + consciência de
ser mortal” é um coquetel que carrega em germe a fonte de todas as
interrogações filosóficas” (p. 33).
Por limitações de tempo e espaço, preciso me
ater ao que considero essencial no texto de Ferry e que melhor esclarecerá o
benefício intelectual e psicológico que me acarretaram os estudos filosóficos. É
na seção A finitude humana e a questão
da salvação que seu discurso se reveste de um teor intelectualmente
robusto.
Para Ferry, tanto quanto para muitos filósofos
antigos, a filosofia ajuda-nos a viver melhor, a despeito de nossas angústias,
a despeito da consciência de nossa finitude. Ela nos convoca a buscar uma
“salvação” por nós mesmos, para o que sugere que façamos bom uso da razão.
Assim, o autor determinará o lugar da filosofia em cotejo com o da religião.
Ele definirá a filosofia em relação à religião. Para tanto, reconhecerá, de
início, o que se segue:
“A filosofia – todas as filosofias, por mais divergentes que às vezes
sejam nas respostas que tentam oferecer – promete também que podemos escapar
dos medos primitivos. Ela tem, pois, em comum com as religiões, pelo menos na
origem, a convicção de que a angústia impede de viver bem, ela nos impede não
apenas de ser felizes, mas também de ser livres. Temos aí, como eu já lhe havia
sugerido com alguns exemplos, um tema onipresente entre os primeiros filósofos
gregos: não se pode pensar ou agir livremente quando se está paralisado pela
surda inquietação que gera, mesmo quando se tornou inconsciente, o temor do
irreversível. Trata-se, pois, de chamar os homens à “salvação”.”
(p. 29)
A “salvação”
oferecida pela filosofia é intransferível, ou seja, não é dependente de
um Outro que nos transcende, mas depende de nossa própria iniciativa e de nosso
esforço racional. Antes de trazer à consciência do leitor passagens
extremamente importantes para a fundamentação de meus propósitos, preciso fazer
ver que a filosofia, quando situada em oposição à religião, acaba por ser
desprestigiada na perspectiva teológica cristã. Assim é que, para muitos
teólogos – exceto para os que se esforçaram por tornar a filosofia uma adenda
da teologia, como São Tomás e Santo Agostinho – a filosofia se confunde com o
diabólico, justamente pela ruptura que faz com o discurso dogmático que
pretende subsidiar a fé. Observa Ferry que a palavra diabo significa, em grego,
“aquele que separa”. Mas não se trata de qualquer separação; trata-se da
separação da relação vertical do homem com Deus.
“Para um teólogo dogmático, a filosofia – salvo, é claro, se ela se
submete completamente à religião e se põe inteiramente a seu serviço (mas então
ela não é mais verdadeiramente filosofia.) – é por excelência obra do diabo,
pois, ao instigar o homem a se voltar contra as crenças para fazer uso da
razão, do espírito crítico, ela o arrasta insensivelmente para o terreno da dúvida, que é o primeiro passo para
longe da tutela divina”.
(pp. 28-29)
Esse trecho de Ferry merece alguma
consideração. Quero destacar o que se segue: 1o) ao contrário do que
nos sugere a imagística teológica, construída com base na bíblia, uma leitura
secularista nos permitiria dizer que o diabo não é aquele que desvia o homem do
caminho que leva a Deus, mas aquele que esclarece o homem, instiga-o a lançar
mão do expediente da dúvida, do questionamento (ora, nada mais humano do que
duvidar, do que desejar saber; 2o)
Ao ensinar a confiança cega (fé) como virtude, a religião não abre concessão à
dúvida. É preciso resistir às tentações do diabo, que quer inculcar-nos a
dúvida e conservar-nos na obediência inquestionável a Deus.
“Por não acreditar num Deus salvador, o filósofo é antes de tudo aquele
que pensa que se conhecemos o mundo,
compreendendo a nós mesmos e compreendendo os outros, tanto quanto nossa
inteligência o permite, vamos conseguir, pela lucidez e não por uma fé cega,
vencer nossos medos”.
(p. 24)
Não é custoso concluir pela incompatibilidade
entre as duas atitudes em face da realidade: a religiosa e a filosófica. Trata-se
de duas vias que tomam direções opostas, por vezes, conflitantes: uma
propõe-nos a salvação pela fé; a outra, a “salvação” pela razão, que culmina na
sabedoria, estado a que chegamos quando conseguimos viver mais felizes e
livres, porque reconciliado com a vida, porque não mais perturbado com a
inevitabilidade da morte, nem confortáveis na esperança de que se cumpra uma
promessa cujo único fiador é um Outro que nos transcende e de cuja existência
não podemos ter certeza.
Ferry nos lança a seguinte questão: “Toda
filosofia estaria destinada a ser ateia?” (p. 30), ao que ele não apresenta uma
resposta, pelo menos não diretamente. Preferirá, contudo, no decorrer do texto,
nos mostrar que a filosofia é preferível porque somente ela nos abre o caminho
da liberdade de pensamento e o caminho para a lucidez. Assim, escreverá:
“Filosofar, mais que acreditar, é, no fundo, - pelo menos do ponto de
vista dos filósofos – já que o dos crentes é, com certeza, diferente -,
preferir a lucidez ao conforto, a liberdade à fé. Trata-se, em certo sentido, é
verdade, de “salvar a pele”, mas não a qualquer preço”.
(p. 31)
Por que não se submeter a uma doutrina de
salvação cujo único caminho é Deus? Outra questão que nos levanta Ferry. E a
resposta dada pelo filósofo merece ser aqui reproduzida na íntegra. Ele nos
apresenta duas razões, a primeira das quais lemos a seguir:
“Primeiramente – e antes de tudo – porque a promessa que as religiões
nos fazem para acalmar as angústias da morte, a saber, aquela segundo a qual
somos imortais e vamos reencontrar depois da morte biológica os que amamos, é,
como se diz, boa demais para ser verdadeira. Boa demais e muito pouco crível a
imagem de um Deus que seria como um pai para os filhos. Como conciliá-la com a
insuportável repetição dos massacres e das desgraças que se abatem sobre a
humanidade: que pai deixaria seus filhos no inferno de Auschwitz, de Ruanda, do
Camboja? Um crente dirá, sem dúvida, que é o preço da liberdade, que Deus fez
os homens livres e que o mal lhes deve ser imputado. O que dizer, porém, dos
inocentes? O que dizer dos milhares de criancinhas martirizadas durante esse
crimes ignóbeis contra a humanidade? Um filósofo acaba duvidando de que as
respostas religiosas bastam. De alguma forma, ele acaba sempre pensando que a
crença em Deus, que surge como por reação à guisa de consolo, nos faz talvez
perder mais em lucidez do que ganhar em serenidade. Ele respeita os crentes, é
claro. Ele não supõe necessariamente que eles estejam errados, que sua fé seja
absurda, ainda menos que a existência de Deus seja certa. Como, verdade seja
dita, se poderia provar que Deus não existe? (...)”.
(pp.30-31)
Não sou tão condescendente quanto o autor ao
nos fazer acreditar que os filósofos não podem supor que os crentes estão
errados. Alguns parecem supor. Também não entendo por que seria necessário
provar a inexistência de Deus tanto quanto seria a inexistência de duende,
fadas e Papai Noel. Na falta de evidências para a existência de tais seres, não
vemos razão para acreditar nela. E eu diria que se a questão da existência x
inexistência de Deus fosse investigada em termos de probabilidade, não tenho
dúvidas de que a argumentação orientada para a maior probabilidade da
inexistência sobrepujaria o esforço argumentativo em sentido contrário. Para
mim, “provar a inexistência de Deus” é um falso problema. Ninguém se insurge
contra quem não se dá o trabalho de tentar provar a inexistência de Papai Noel.
O problema, eu o reconheço, é que a ideia de Deus é um estratagema com que uma
poderosa instituição ideológica milenar tenta dar por encerrado os dois maiores
problemas humanos: o do sentido da vida e o da morte. Enquanto permanecer o
mistério, Deus continuará a ser a única resposta para milhões de pessoas
incapazes de se livrar dos grilhões psicológicos da religião para experimentar
um dos maiores benefícios da filosofia – a autonomia
de pensar, porque a resposta que conforta, que consola, a despeito do
sofrimento, a despeito da injustiça, a despeito dos argumentos que possamos
oferecer em favor da inexistência de um ser de tal magnitude. Não é aqui o
lugar para levar adiante meu esforço argumentativo nessa matéria.
Em favor da filosofia, Ferry acrescenta:
“O bem-estar não é o único ideal sobre a Terra. A liberdade também é um
ideal. E se a religião acalma as angústias, fazendo da morte uma ilusão, corre
o risco de fazê-lo ao preço da liberdade de pensamento. Porque, de certa forma,
ela sempre exige em troca da serenidade que pretende oferecer que, num momento
ou noutro, a razão seja abandonada para dar lugar a fé, que se ponha termo ao
espírito crítico para que se aceite acreditar. Ela quer que sejamos, diante de
Deus, como crianças, não adultos em quem ela não vê, afinal, senão arrogantes
raciocinadores”.
(p. 31)
Por fim, é forçoso concluir que escolher
pela filosofia é um ato que requer coragem, justamente porque a filosofia, ao
contrário da religião, não promete aquilo de cujo cumprimento não pode ter
certeza. Religiosos ou não, filósofos ou não, sabemos que vamos morrer. Sabemos
que nossa vida está desde o nascimento limitada a certa duração. Nenhum de nós,
religioso ou não, filósofo ou não, sabe o que há depois da morte. Todos
sabemos, contudo, que a morte é o retorno ao inorgânico. Sabemos disso ao ver
um cadáver. A morte põe fim à vida consciente. Sabemos que os que morreram não
retornam mais à vida. Sabemos que as pessoas falecidas que amamos não poderão
mais estar conosco. Assim, o filósofo lhe propõe: em face da inevitabilidade da
morte e conscientes de nossa finitude, vamos enfrentá-la pelo exercício da
reflexão que leva a uma compreensão mais clara e verdadeira dessa condição, a
fim de que possamos alcançar um estado de sabedoria, indispensável para viver
feliz e livremente. Ao contrário, o religioso propõe: não se preocupe, a morte
é uma ilusão, toda pessoa que viver segundo a vontade de Deus terá o benefício
da salvação, ou seja, da imortalidade.
A morte nunca me atormentou. Não tenho medo de
morrer. Quiçá, esse destemor encontre raízes na aurora de minha existência, já
que meu nascimento manteve um longo namoro com a morte. Encontrei na filosofia
uma forma poderosa de enfrentar o sofrimento, mais do que nunca dantes
encontrara na religião, que aliás nos ensina a suportá-lo com resignação.
Sofrer, por vezes, é inevitável. Muitos sofrem (pessoas e animais). A vida nos
dá testemunho do sofrimento todos os dias. Mas não posso aceitar a crença de
que sofrer é necessário. Sofrer não o é. E é claro que buscamos o prazer e
desejamos não sofrer. Ao contrário do que nos sugere a teologia cristã, que personifica em Jesus a virtude do sofrimento, um modelo a ser seguido para todo crente que sofre, aquele que se
beneficia da filosofia começa a recusar a ideia de que sacrificar-se, como
ocorrera com o “cordeiro de Deus”, em favor de uma ilusão, possa ser considerado uma virtude. No tocante ao martírio sobre o qual se estabeleceu a Igreja, Marcelo Da Luz nos ensina:
"A Igreja nasceu sob o estigma do martírio de Jesus. Do alto da cruz, o Cristo personifica a reivindicação da religião sobre os corpos dos fiéis. Desde o princípio, os máximos valores cristãos - o perdão dos pecados e a vida eterna - foram associados à autoimulação. A aceitação do sofrimento enquanto exigência ao cumprimento dos insondáveis planos divinos conduz o crente a desvalorização de si e consequente resignação à dor.
(...)"
(Onde a Religião Termina: 2011, p. 145)
Fiquemos, então, com este trecho de Ferry, com
o qual ponho termo a este texto, convencido de que a filosofia não só pavimentou
o caminho que me levou a aderir ao ateísmo, mas também, sobretudo, me permitiu
a reconciliação com a vida e com o humano em mim.
“Se a filosofia, assim como as religiões, encontra sua fonte mais
profunda numa reflexão sobre a “finitude” humana, no fato de que para nós,
mortais, o tempo é realmente contado e de que somos os únicos seres neste mundo
a ter disso plena consciência, então, é evidente que a questão de saber o que
vamos fazer da duração limitada não pode ser escamoteada”.
(p. 33)