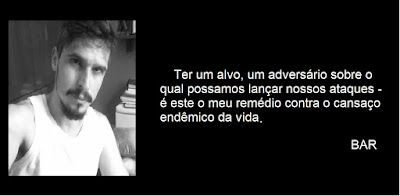A filosofia do desespero: o Nada e o Indivíduo [1]
Apresentação e Justificação
Inscrevendo-se no lugar de encontro entre a filosofia trágica e a
filosofia pessimista, este projeto vincula-se ao programa de pesquisa em cujo
escopo repousa a questão da inscrição do sagrado no pensamento filosófico
contemporâneo, reconhecidamente afetado pelo niilismo, que será posicionado, no
próprio trâmite investigativo, em cotejo com a metafísica cristã. Nosso intento
consiste em investigar o modo como a hierofania (manifestação do sagrado) se
inscreve no pensamento dos filósofos Sören Kierkegaard (1813-1855) e Emil
Cioran (1911-1995), dois expoentes do que podemos chamar de filosofia do desespero. O instrumental
conceitual de que nos serviremos para empreender nossa investigação será
fornecido por Nietzsche e Heidegger, filósofos que, como patenteia Cabral
(2014), abrem caminho para pensar a inscrição do sagrado na experiência
niilista que profundamente marca a vida e o pensamento filosófico
contemporâneos. A Nietzsche tomaremos os termos vontade de poder, diosinio,
eterno retorno e além-do-homem, os quais, a despeito de suas especificidades
semânticas, se enfileiram num campo hermenêutico que sustenta sua filosofia,
enquanto filosofia de afirmação da vida.
Todos esses termos dão testemunho do esforço empreendido pelo filósofo para
superar o niilismo, cujas raízes ontológicas podem ser compreendidas pela
consideração da questão da morte de Deus. Já em Heidegger, na medida em que a
questão da reinscrição do sagrado se articula à verdade do acontecimento do ser
enquanto tal, estaremos interessados em acompanhá-lo no percurso de seu método
fenomenológico-hermenêutico, que lhe serviu para investigar a vida fática do
ser aí humano. De modo algum, temos a pretensão, de resto infactível, de
recobrir toda a extensão da analítica heideggeriana. Estaremos, por isso,
interessados em, partindo do seu apelo a que se retome a questão do Ser em
geral, acompanhá-lo em sua análise do Dasein
(ser-no-mundo), naquilo que ela nos aproveita para a investigação do modo como
o sagrado se inscreve e se ressignifica num pensamento que pensa o
ser-no-mundo a partir do lugar do
desespero.
Urge dizer que a primeira questão que se nos apresentou de modo
premente, antes mesmo de nos pormos a redigir este projeto, e que acena ao
primeiro e fundamental desafio, consiste em como pensar a hierofania no
interior de um pensamento filosófico que se faz na relação de um eu desesperado
com um mundo esvaziado de qualquer sentido orientador. Não menos urgente é
assinalar a importância que terá o conceito de modo de ser em nossa pesquisa. Nesse tocante, nossa investigação se
norteará pela hipótese segundo a qual o niilismo, sobre o qual discorreremos
mais adiante, enquanto acontecimento histórico e estrutural, foi decisivo para
a produção do modo de ser próprio do homem contemporâneo: o homem desesperado. Daí a pertinência da questão sobre como é
possível pensar a reinscrição do sagrado nessa existência desesperada.
1. O Niilismo e a Morte de Deus
1. 1. O Niilismo como princípio de determinação
Principiamos
com a observação de que, segundo Cabral (2014, p. 12), o niilismo é um princípio
de determinação da história ocidental. A morte de Deus, que é uma conjuntura do
nosso tempo, por seu turno, revela a positividade do niilismo. Citemos o autor:
o niilismo “é o acontecimento fundamental de nossa história atual” (p.16). Não
perdemos de vista, com base em Cabral, o fato de que o niilismo não pode ser
pensado reducionalmente em termos de deteriorização dos antigos princípios
vinculativos (p. 23). Ainda segundo Cabral (p. 25), a caracterização negativa
do niilismo que toma como causas os sintomas, quais sejam, “negação da
instituição familiar, dissolução dos paradigmas políticos, rejeição da
autoridade dos antigos saberes”, remonta ao romance do escritor russo Ivan Turguêniev.
“As
interpretações hodiernas se mostraram insuficientes, pensando o niilismo como
perda dos princípios vinculativos da tradição, e as interpretações não se
preocupam em questionar a condição de possibilidade dessa perda.
Sintomatológicas, elas gestaram diversas estratégias nostálgicas e
remoralizadoras (...). Trata-se de
assumir o niilismo como conjuntura atual do Ocidente e reconduzi-lo à sua
condição de possibilidade” (Cabral, 2014, p. 26)
No esforço por repensar o niilismo, é
indispensável, portanto, trazer à tona, na investigação, suas raízes
ontológicas. O niilismo não se reduz às suas manifestações culturais. O que é
preciso investigar é o lugar de determinação de sua essência.
A compreensão do niilismo como um fenômeno com
raízes ontológicas torna razoável nossa hipótese de que ele contribui
decisivamente para “produzir” um modo de ser característico do homem
pós-moderno:
o modo de ser desesperado. A
estrutura ontológica do mundo é abalada. O mundo não é mais a casa, o lar em
que se encontra o homem. O mundo não mais se apresenta como um campo de
sentidos sólidos, garantidos por uma heteronomia. A relação entre o homem e o
mundo sofre uma irreparável fissura, através da qual irrompe no ser do homem o
desespero. Essa relação entre o homem e o mundo passa a ser uma relação
desesperada, uma relação em que o homem experiencia um excruciante abandono.
Tome-se o que entendemos por “mundo”.
Note-se, de inicio,
que sem linguagem, não há psiquismo, mas tão-somente processos fisiológicos,
porquanto o que define o conteúdo da consciência são fatores sociais. A
consciência se constitui do conjunto dos discursos que o indivíduo interioriza
ao longo de sua vida. O homem aprende a compreender o mundo pelos discursos que
interioriza e, na maior parte do tempo, os reproduz em sua fala.
O que chamamos de
mundo humano não é somente a totalidade das coisas existentes como dadas à
experiência sensorial humana. O conceito de mundo não se reduz, evidentemente,
à noção de planeta em que habitamos.
O que é, então, o
mundo? Num primeiro momento, realçando a importância da dimensão do simbólico
na definição de “mundo”, podemos dizer que o mundo é um campo experiencial
entretecido de significados em relação ao qual se constitui o homem e onde ele
se conhece. O mundo só existe para o homem, porque é apenas para ele que esse
mundo pode ser nomeado. O mundo é tudo aquilo que pode ser dito; é a totalidade
ordenada passível de ser nomeada, de modo que as coisas só podem existir para
uma consciência humana na medida em que são passíveis de receber um nome. Mas o
vocábulo “coisas” designa não só os objetos materiais, acessíveis à nossa
experiência sensível, mas também as entidades mentais, como ideias,
sentimentos, entes imaginários, etc.
Não há existência
possível para o homem fora da dimensão simbólica: tudo que existe para
o homem tem um nome. Aquilo que não tem nome, em última instância, não existe,
tanto no mundo exterior quanto no mundo interior da mente. O que não tem nome
não pode ser pensado; e se não pode ser nomeado nem pensado, não existe.
Embora a linguagem
verbal seja o sistema fundamental de criação e significação do mundo – a base
fundamental da cultura e da sociedade -, não ignoramos a existência de outras
formas de linguagem, como a da matemática, a das artes, as gestuais, etc.
Aliás, a linguagem corporal é parte constitutiva do processo de produção de
nossas interações verbais. Quando falamos, fazemos gestos com as mãos,
revelamos expressões faciais, por exemplo, franzindo as sobrancelhas quando não
concordamos com o que nos dizem, etc. As expressões de nosso corpo estão em
sintonia com o significado de nossas expressões linguísticas. Não franzimos as
sobrancelhas ao mesmo tempo em que demonstramos verbalmente contentamento. Franzir
as sobrancelhas pode sinalizar reprovação e é de esperar que se acompanhe de
expressões linguísticas que demonstrem reprovação ou insatisfação.
O mundo humano é
também um gigantesco acervo de conceitos e conhecimentos. Quanto mais palavras
conhecemos, quanto mais conceitos conseguimos articular, maior será o nosso
mundo, maior é a extensão e alcance de nossa consciência. A extensão de nossa
linguagem é proporcional à extensão do conhecimento que temos do mundo.
Num segundo momento,
devemos reconhecer que estamos ativamente envolvidos com o mundo; tanto o mundo
como as coisas são então percebidos como dotados de significado em função desse
envolvimento ativo. A objetividade do mundo deriva de nossa experiência
subjetiva com ele. Essa experiência subjetiva é primária. Os nossos processos
cognitivos têm por base mesma a percepção e nossas capacidades
sensório-motoras. Nossa cognição resulta dessas capacidades e de nossas ações
no mundo.
O Dasein é sempre um
ser interessado no mundo. O significado das coisas deriva do nosso interesse
nelas, e disso resulta o caráter de nosso envolvimento com elas. Naturalmente,
nosso envolvimento com o mundo não é tão-somente intelectual ou teórico, mas
também emocional, prático, estético, imaginário, etc.
Nossa experiência é
sempre um mundo pleno de significados. O mundo que um indivíduo percebe é, em
certo sentido, o seu próprio mundo, diferente do mundo percebido por
outro indivíduo. Esse mundo próprio é um mundo significativo e os significados
que têm são aqueles que o indivíduo percebe.
Uma vez que o mundo é
o horizonte a partir do qual é possível a experiência humana, o mundo não se
reduz ao meu próprio mundo. O mundo e as coisas que nele encontro têm
uma propriedade que independe de meus desejos e de meus interesses, de modo que
grande parte dos significados das coisas que nele se topam são significados que
encontro no mundo. A ideia de mundo como totalidade de significados
implica a assunção de que as coisas só ganham significado na sua relação com
outras coisas e seus significados, no horizonte da totalidade do mundo.
Finalmente, o
sujeito, que não existe senão no mundo e em sua relação ativa com o mundo, é
sempre sujeito que age sobre o mundo e sofre dele uma ação. Esse sujeito não se
identifica com uma consciência abstrata, mas é sujeito corporificado. A
experiência que temos do mundo tem como base nosso corpo: o mundo não é só
objeto de reflexão e de interpretação; é mundo que experimentamos com o corpo,
ao qual respondemos subjetivamente com o corpo. Em última instância, o mundo, antes de ser mundo que
compreendemos, é mundo que sentimos.
Com vistas a compreender melhor a dimensão do
abalo niilista, ponderemos, brevemente, sobre o significado de existir. Existir é, decerto, mais do que o viver biológico.
Se os animais são, se a planta é ( em-si, segundo Sartre), o homem é ser
para-si, ao que nós acrescentaríamos, ser-com. Existir é um movimento
relacional com o sentido, que é seu fundamento. Para o homem, existir é estar
consciente da relação com o em-si. A existência do para si (a consciência
humana), dirá Sartre, é liberdade e transcendência, pois que nega sua
facticidade tanto quanto os objetos. O homem existe sabendo o que não é. E a
relação com o sentido é sempre de abertura para um além de sua facticidade, de
sua condição natural. O sentido é lugar de transcendência do homem em relação a
essa condição, que não pode negar completamente, é claro (não pode deixar de
ser finito), mas que lhe permite continuar a existir na condição de
ser-para-a-morte (Heidegger). Ora, se o Dasein é constitutivamente um
ser-para-a-morte, se a morte é sua possibilidade mais autêntica, se essa
condição é fonte de angústia, não pode o homem abrir mão do sentido, de existir
tecendo sentido. Se existir é correr para a morte inevitável; se, como notara
Durkheim, a sociedade é um bando de homens que caminha em direção à morte
inevitável, o homem está condenado, ao longo dessa corrida, a produzir
sentidos, a tecer de significados as malhas de sua existência.
Um exemplo
extremamente interessante que ilustra a indispensabilidade do sentido para o
existir humano é o fenômeno do suicídio. É um truísmo dizer que somente
os seres humanos são capazes de se suicidar, mas o que daí se segue tem
importância filosófica. O homem é o único ser que, deliberadamente, pode dar
cabo de sua própria vida e não deixa de ser espantoso, para muitas pessoas, que
alguém que goze de perfeita saúde possa se matar. É possível que as
razões para explicar o suicídio variem bastante, mas vistas em conjunto, de uma
perspectiva filosófica, elas indicam a percepção pelo indivíduo da absurdidade
de sua existência. O suicídio também ajuda-nos a ver a importância da dimensão
do sentido para a própria conservação da existência. O suicídio parece
testemunhar em favor do fato de que, para o ser humano, a manutenção do viver é
dependente de sua coerência simbólica. Pessoas se matam porque a vida deixou de
fazer sentido para elas. O niilismo dilui o enraizamento ontológico do homem no
mundo, de modo que o homem se sente existindo num vácuo que lhe inspira terror.
Tomemos, agora, a
importância do anúncio da morte de Deus. Novamente é Cabral (p. 26) que nos
adverte de que a questão da morte de Deus, longe de servir à caracterização
definitiva do niilismo, constitui o caminho para a compreensão de suas raízes
ontológicas.
É claro que o
niilismo exibe um caráter histórico, mas apenas na medida em que marca a
presentidade de um processo histórico. O niilismo não só é “um princípio
constitutivo de nosso presente histórico”, como também “vigora como
determinante do desdobramento de nosso tempo” (p. 27). O niilismo é estrutural,
e o é porquanto não se reduz às suas manifestações culturais, mas “acomete o
modo de determinação do mundo histórico que é o nosso” (p. 27).
2. O niilismo, segundo Heidegger
Heidegger se lançou à
investigação fenomenológica do niilismo, tendo em vista a descrição de suas
raízes históricas e mais profundas. Para tanto, situou sua análise no lugar de
abertura do ser, na ‘clareira’ (Litchung) do próprio ser. É este o lugar de abertura de
revelação-ocultamento do ser ao homem, que caracteriza a história do pensamento
ocidental.
O homem ocidental
experiencia o ente que se lhe apresenta de diversas formas, ao longo do tempo:
algo gerado pela natureza ou artefato, criação divina, coisa extensa, objeto,
matéria submetida à análise, à prova e à pesquisa cientificamente orientada.
Vê-se, pois, que o “ser do ente” é algo que se apresenta cada vez de um modo
diferente.
Heidegger observa, no
entanto, que o homem, cada vez em que se debruça sobre a compreensão do que são
os entes em seu ser, ele transcende o plano dos entes. Essa transcendência é
metafísica. A metafísica é, portanto, para o homem ocidental, o modo
fundamental de compreensão do ser do ente. A metafísica acontece no “apresentar-se”
do ente, de uma certa forma, ao homem que se ocupa de compreendê-lo.
Quando o ente é
definitivamente compreendido e determinado num dado momento histórico, por
exemplo, como vontade de poder ou como trabalho, quando o que mais importa é se
apropriar do ente como fonte possível de energia como coisa a serviço do
trabalho técnico-científico, a abertura originária do ente, isto é, seu ser
suscetível de diferentes compreensões se fecha. Disso resulta não só o
esquecimento do ser, como também o esquecimento desse esquecimento. É
justamente essas duas formas de esquecimento que caracteriza, para Heidegger, o
niilismo. O niilismo, na visão heideggeriana, é esta situação em que “não há
mais nada” do ser – donde a necessidade premente de retomar a pergunta sobre a
essência do ser.
3.
A morte de Deus como imperativo
histórico
Em primeiro lugar, é
premente considerar a pergunta “o que é Deus, para Nietzsche?”. Para Nietzsche,
Deus congrega em si diversos conceitos metafísicos tradicionais: o ser, o
incondicional, o Bem, o verdadeiro, o perfeito. Deus, nesse sentido, dota o
devir de um estrutura de sentido sob uma pluralidade de elementos aparentemente
caóticos (p. 29). Mas Deus também representa o princípio que articula e
determina as diversas ações humanas, mormente em razão da influência do
pensamento medieval cristão. Segundo Cabral (ib.id.), “o conceito de Deus
aparece também como sentido existencial para as ações e, assim, justifica o
devir teórico e praticamente”.
O que sucedeu, então?
O acontecimento histórico da morte de Deus acarretou no homem o sentimento de
abandono, visto que esse acontecimento significou a dissolução da estrutura
sólida de caráter metafísico-existencial (p. 29-30). Enfatize-se que Deus
encerrava em si o princípio metafísico e o sentido último da existência. Daí se
segue que Deus era o signo que permitia pensar o absoluto, ter acesso a ele.
Deus também representava a instância de estruturação e normatização das ações e
dos pensamentos. Sua morte, portanto, assinala o desmoronamento daquele sentido
último estruturante da existência. Sua morte impede o acesso ao absoluto ou ao
“em si”, já que estes não mais existem. O devir carece de fundamento
ontológico, e as ações não mais encontram apoio em um sentido último e
absoluto.
“(...) O acontecimento da morte de Deus, que nada
mais é do que um imperativo histórico
de nosso tempo, permite a abertura de um
novo campo hermenêutico que se diferencia do pensamento metafísico, por não
se desdobrar com vistas ao em si. Isso porque a morte de Deus deflagra, dentre
outras coisas (...), a instabilidade da perpetuação das metanarrativas
ocidentais, o que produz o descerramento de um horizonte interpretativo não
mais marcado pelo gesto metafísico de busca por fundamentos últimos ou
absolutos dos entes e do mundo” (Cabral, 2014, p. 30, grifos nossos).
É oportuno retomar
aqui a concepção do sentido como algo em aberto com vistas a compreender o que
se pode concluir dessa abertura de um novo campo hermenêutico que se distingue
do pensamento metafísico. Ora, o pensamento metafísico opera sempre com base na
crença na unicidade do sentido e no controle sobre o sentido. Esse pensamento,
na sua modalidade religiosa, se estrutura num discurso autoritário, onde mais
expressamente se manifesta a dominação pelo uso da palavra. Por outro lado, o
campo hermenêutico que se abre, com o imperativo da morte de Deus, não é mais
coagido por um “em si” que sustenta a unicidade do sentido. Sua abertura é,
pois, um alargamento do horizonte de possibilidades de sentido.
4. O suicídio
Num horizonte
pessimista, o suicídio aparece como uma questão premente. Afinal, é razoável
supor que um pessimismo exacerbado pode culminar com a própria negação da vida
num domínio não mais teórico, mas prático. Camus – é oportuno lembrar – foi
assertivo ao considerar o suicídio, em seu O Mito de Sísifo (2009). Logo de início, ele escreve: “só existe um
problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a
pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia” (p. 17). De
modo algum, estamos a sugerir que todo pessimismo filosófico traz em germe o
desejo pela consumação do suicídio, tampouco que os filósofos denominados de
pessimistas recomendam como solução última para o drama da existência, para a
absurdidade do homem, o suicídio. Notemos que Schopenhauer afirma ser o
suicídio um ato insensato. Vale acompanhar a posição de Schopenhauer nesse
tocante, a qual será apresentada aqui de modo bastante esquemático. Para
Schopenhauer, o suicídio é o aniquilamento do indivíduo, enquanto fenômeno, e
não da vontade. O que se nega no suicídio não são os males da vida, mas sim as
alegrias. O suicida deseja a vida, quer a vida. Sua insatisfação não decorre
senão das contradições de que está impregnada a vida. Prossegue Schopenhauer,
argumentando que, ao destruir o corpo, o suicida renuncia à vida, sem jamais
negar o querer-viver. O suicida deseja a vida e até aceitaria a existência, se
ela não fosse continuamente marcada por circunstâncias infelizes e penosas.
Ocorre que o suicídio
– e aqui reside um aspecto importante para a nossa argumentação – se nos revela
a contradição do querer-viver consigo mesmo. No grau mais elevado da
objetivação da vontade, isto é, no indivíduo humano, essa contradição se
manifesta com uma força poderosa: o indivíduo declara guerra contra si mesmo;
ele quer ardorosamente a vida ao mesmo tempo em que, com ímpeto, se lança à
tarefa de remover as adversidades; mas a vontade individual prefere suprimir o
corpo a deixar-se sucumbir à dor. Schopenhauer concluirá dando-nos a conhecer a
seguinte condição paradoxal: o suicida cessa de viver porque não pode deixar de
querer. Não interessa nos deter nas consequências envolvidas na tentativa de
Schopenhauer rejeitar o suicídio como solução para a dor de existir.
Parece-nos, em todo caso, que Schopenhauer desloca o problema do suicídio da
dramaticidade da existência individual (diríamos, com Merleau-Ponty, da
corporeidade do vivido) para o domínio do em-si indestrutível e abstrato, de
uma Vontade que não carece nunca de fenômenos. Schopenhauer parece recomendar
uma resignação do indivíduo à essência da vontade, que é a dor, como um caminho
para a salvação que deseja e que, ao contrário do que crê, não alcançaria com a
morte, pois esta, eliminando o fenômeno, permite que a Vontade se afirme. A
necessidade acompanha o aparecimento da vontade, e o indivíduo é impotente para
suprimi-la, e ilude-se ao supor que o faz pondo termo a sua vida corporal. Há
uma série de pressupostos que, forçosamente, silenciamos, como, por exemplo, o
de que, para Schopenhauer, a morte não é aniquilação, o de que o suicídio não
nos oferece o não-ser, o de que o suicídio constitui ele mesmo um obstáculo à
redenção, etc.
É preciso abandonar,
no entanto, o curso dessas reflexões para assinalar o que, deveras, concerne à
nossa argumentação: no horizonte do pessimismo filosófico, a problematicidade
do suicídio parece suscitar a necessidade da consideração da reinscrição do
sagrado como uma presença silenciosa que desencoraja a consumação desse ato ao
qual a vida debilitada no desespero se inclina. Faz-se mister uma observação
aqui: acreditamos poder encontrar em Kierkegaard – como esperamos fique claro
mais adiante – um terreno seguro em que nos movimentaremos para pensar a
questão do desespero; mas, na medida em que a questão da reinscrição do sagrado
deverá ser pensada à luz de uma filosofia do desespero que não se orienta por
nenhuma promessa metafísica, ou melhor, de uma filosofia em cujo horizonte
desapareceu o lugar de Outro transcendente que responde pelo sentido último,
segue-se daí que o desespero deverá ser interpretado como desesperança, isto é,
como perda profunda e irremediável de qualquer esperança numa redenção por uma
transcendência. O estado de desespero é, portanto, aquele experienciado por
quem já não aguarda, não espera nada mais além do real, por quem orienta sua
vida unicamente pela imanência. O desespero, quando consumado, pode, no
entanto, ser alegre e ativo (ativo porque liberta o homem da passividade
suposta na esperança). Estamos, neste momento, pensando com Spinoza, ao definir
a alegria, em sua Ética (2011: 141), como “a passagem do homem de uma
perfeição menor para uma maior”. Trata-se de encaminhar uma reflexão sobre o
desespero em que ele se revele não como mera perda e abandono, mas como estado
em que o homem, não sem esforço, não sem enfrentamento de si mesmo, quer
realizar a sua perfeição. Esse estado de perfeição, Spinoza chamou de beatitude
(p. 232).
Diferentemente do que
sucede em Kierkegaard, em cujo pensamento ainda se vê Deus como a instância
ontológica responsável pela origem do sentido existencial em relação à qual o
homem se esforça por realizar a síntese entre o finito (corpo) e a alma
(infinta), em Cioran, essa instância dá lugar ao Nada. Cioran pergunta-se sobre
o modo como pode encontrar sentido em seus tormentos, o que sugere que o
sentido pudesse de algum modo ser descoberto nas regiões desérticas e
aterradoras do seu ser. A intuição do Nada e a evidência do sofrimento elidem a
possibilidade do sentido. O sentido se põe então como um problema para a
existência desesperada: não se trata mais de buscar sentido, esperar um sentido
já posto, mas de produzi-lo, construí-lo. É o homem (o indivíduo humano) que
precisa construir sentido em face de um universo indiferente, infinito e
escuro. Do que se expôs até aqui, segue-se a urgência da questão: o que há na
condição humana desesperada que a move em seu desespero? O que a faz, apesar do
desespero, prosseguir em sua marcha, de resto, absurda? A nossa hipótese nos encaminha
à busca por uma resposta mediante a especulação sobre a reinscrição do sagrado.
Este texto é parte do miniprojeto Niilismo e Teofania: a reinscrição do
sagrado na filosofia do desespero : uma abordagem de Kierkegaard e Cioran,
submetido à FAPERJ como requisito para obtenção de uma bolsa de iniciação à
pesquisa (UERJ).
CABRAL, Alexandre Marques. Niilismo e Hierofania: Nietzsche, Heidegger e a tradição cristã –
Nietzsche, cristianismo e o deus não-cristão, vol. 1. Rio de Janeiro:
Mauad, Faperj, 2014.