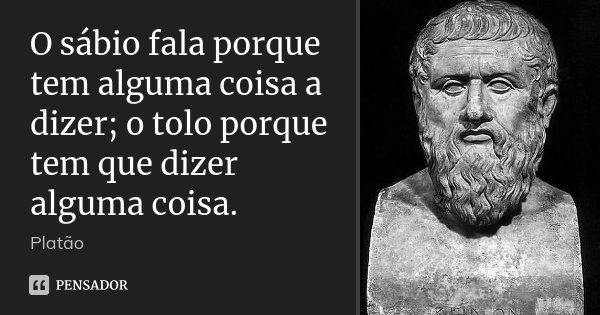Eros
e a afirmação da vontade de viver
O amor segundo
Schopenhauer
Convém não perder de vista que é a
insignificância radical do indivíduo que está sob foco de nossas considerações.
A mais enérgica, imperiosa e irresistível forma pela qual o homem e o animal
afirmam a vontade de viver repousa na satisfação do instinto sexual. A
compreensão da maneira como funciona esse instinto desvela, mais uma vez, a
insignificância radical do indivíduo.
Partindo-se da premissa segundo a
qual a natureza tem por essência a vontade de viver (e considerando-se que o
homem é um ser integrante da natureza), segue-se que o objetivo primeiro do
homem é a sua conservação. É importante que não percamos de vista essa
inclinação premente da Vontade em Schopenhauer, já que se trata de uma
característica que não encontrará acolhida na concepção nietzschiana de “vontade
de poder”: a vontade no homem e nos
animais não humanos é esforço para a conservação. Segundo Schopenhauer, uma vez que o homem
tenha garantido sua subsistência, sua conservação, ele quererá apenas garantir
a propagação da espécie. Deve-se, no entanto, fazer aqui uma ressalva: na
verdade, não é o homem que quer conscientemente a conservação da espécie, mas a
vontade nele que a quer. Portanto, escreve Schopenhauer “(...) a natureza, que
tem por essência a vontade de viver, impulsiona com todas as suas forças quer o
animal, quer o homem a perpetuarem-se”. (ibid., p. 346).
Reencontramos expressa aí a
insignificância radical do indivíduo: este não é mais do que um meio a serviço
da Vontade para a satisfação de seu desígnio. A Vontade é completamente
indiferente ao indivíduo.
Portanto,
a natureza que tem por essência a vontade de viver, impulsiona com todas as
suas forças quer o animal quer o homem a perpetuarem-se. Feito isso, ela tirou
do indivíduo o que queria e fica bastante indiferente a sua morte, visto que
para ela – que, semelhante à vontade de viver, apenas se ocupa com a
conservação da espécie – o indivíduo é como nada. (ibid.).
Para Schopenhauer, os órgãos
sexuais são a verdadeira sede da vontade de viver; nenhum outro órgão está tão
submetido ao império da Vontade. Essa submissão à Vontade exclui toda a
influência da inteligência. Por isso, os órgãos sexuais
(...) são o verdadeiro foco da vontade, o polo oposto ao
cérebro, que representa a inteligência, a outra face do mundo, o mundo como
representação. Eles são o princípio conservador da vida e que lhe assegura a
infinitude do tempo; é por causa desta propriedade que eles eram adorados pelos
gregos no falo, e pelos hindus na linga:
símbolo duplo da afirmação da vontade, vemo-lo agora. Pelo contrário, a
inteligência torna possível a supressão da vontade, a salvação pela liberdade,
o triunfo sobre o mundo, o aniquilamento universal. (ibid., p. 346-347).
Schopenhauer atribui à inteligência
um papel fundamental na libertação do homem da tirania do querer viver.
Devemos, no entanto, protelar a consideração desse aspecto da doutrina
schopenhaueriana, que será examinado quando nos ocuparmos da negação da vontade
de viver.
A sexualidade é vista por
Schopenhauer como uma ilusão vital, tese esta longamente desenvolvida em sua Metafísica
do Amor. Ela é uma ilusão vital porque procura ardentemente, à revelia dos
amantes, os atributos físicos indispensáveis à geração da criança, a qual deve
reproduzir o modelo de espécie mais resistente e adequado à perpetuação da
Vontade. Em outras palavras, os amantes creem que escolhem cuidadosamente seu
amado, que é o amor apaixonado, desinteressado que os impulsiona nessa busca,
mas, na verdade, Eros está a serviço da Vontade; é uma espécie de ardil desta,
pelo qual ela quer realizar, através dos amantes, seu desígnio, qual seja, a perpetuação da espécie. Assim, para
Schopenhauer, o homem é essencialmente instinto sexual que, tomando corpo, se
esforçará, movido pelo apetite sexual, que é a própria essência do homem, para
conservar a espécie.
O profundo pessimismo do qual a
filosofia schopenhaueriana é um sintoma vigoroso calca-se sobre a convicção de
que a essência íntima do universo é uma Vontade cega, absurda e irracional de
viver, vontade esta que impulsiona todo o mundo e cada ser vivo a desejar
incessantemente a vida. A vida do ser humano, especialmente, é um contínuo e
incessante movimento de alternância de desejos que jamais logram satisfação
plena e duradoura, do que resulta que a vida seja experienciada pelo homem como
uma trama marcada por luta sem trégua, esforços inúteis, dores intermináveis,
pálidas satisfações intermitentes e tédio profundo.
À tirania da Vontade, impulso cego
sempre diligente em perpetuar a vida, nem mesmo Eros escapa. O amor é, para
Schopenhauer, portanto, essencialmente instinto sexual, e dele a Vontade se
serve como um estratagema para perpetuar a si própria (já que a Vontade é
vontade de viver). Os protagonistas da relação amorosa acreditam estar vivendo
livremente essa relação, à qual eles associam toda sorte de significados,
anseios, valores, sem saberem que a natureza os usa como meros instrumentos
para atingir seu fim fundamental: a conservação da espécie pela reprodução.
Assim, o amor, tanto quanto o casamento, é um simples artifício empregado para
um fim. Nem um nem outro comporta qualquer valor sagrado. Que o amor esteja
submetido à Vontade cega, absurda e irracional o prova a loucura de que está
impregnada a experiência amorosa. Assim, Schopenhauer manterá que o amor é
realmente poderoso e astuto, pois sabe iludir o ser humano com promessa de
felicidade duradoura, que jamais pode ser realizada.
O próprio prazer sexual é efêmero e
insatisfatório, porquanto a união sexual não visa nunca a tornar felizes os
amantes, mas tão só a possibilitar a geração de novas vidas, e com esta geração
garantir a preservação da espécie. Schopenhauer, portanto, opera uma radical
desmitificação do amor. Toda pessoa apaixonada é vítima de uma ilusão, por mais
que creia no caráter sublime, etéreo, celeste, transcendente do amor, vive-o na
ignorância a respeito de sua realidade: ele
é instinto sexual a serviço da perpetuação da espécie. É através dele que
se afirma de maneira mais enérgica e imperiosa a vontade de viver. Quando um
indivíduo é tomado do instinto amoroso, é a vontade que expressa ardentemente
seu desejo de se perpetuar num ser novo e distinto. Em A Vontade de Amar (2008,
p. 16-17), assinala Schopenhauer:
O
instinto do amor é meramente subjetivo, mas sabe iludi-los, ocultando-se sob a
máscara de uma admiração objetiva. Por mais que haja o amor perfeito e
desinteressado a alguém, o supremo fim é a geração de um novo ser. É prova
disso não se satisfazer o amor com sua reciprocidade sentimental, mas ter
necessidade da posse do gozo físico.
Conclui, pois, o
filósofo de modo severo e desalentado:
As almas
nobres, os espíritos sentimentais, ternamente apaixonados, protestarão em vão
contra o realismo rude de minha teoria; seus protestos carecem de razão. A constituição e o caráter da geração
futura é uma finalidade do amor muito mais elevada que os sentimentos
fantásticos e seus sonhos de idealismo. (ibid., p. 17, grifo nosso).
O frenesi de que é tomado um homem
que encontra numa mulher o modelo vivo de seu ideal de beleza é tão só a forma
pela qual se agita a índole da espécie, sempre ávida de perpetuar-se. Eis
então, no excerto seguinte, como se nos apresenta outro aspecto da constante e
insuperável ilusão a que estão destinados os amantes. Note-se que o amante
nutre a crença ilusória de que a natureza trabalha para preservar a união dele
com o/a amado/a; mas, na verdade, não é isso que acontece, segundo
Schopenhauer:
É também
uma ilusão a sua crença [do homem apaixonado] de que unicamente a posse de uma
mulher, entre todas do mundo, lhe assegura uma ventura infinita. Entretanto,
imaginando embora que seus esforços e trabalhos visam apenas lograr um gozo, na
realidade trabalha só para perpetuar o tipo integral da espécie, criando um
indivíduo determinado, que carece dessa união para existir. (ibid., 2008, p.
21).
O exame levado a efeito por
Schopenhauer sobre a natureza do amor se inscreve num horizonte de
desconstrução do ideal do amor romântico, ideal cujas raízes remontam ao
cristianismo. Há, na crítica schopenhaueriana do amor, um verdadeiro
desencantamento de Eros. Esse desencantamento pode ser interpretado como uma
verdadeira dessacralização do amor, cujo resultado é devolver a Eros sua
natureza instintiva, grosseira, que, ao longo de dois mil anos, foi encoberta
por ideais que o imaginário coletivo não fez mais do que reproduzir. Mas, na
verdade, a experiência não cansa de nos mostrar que tais ideais, que foram
decisivos na construção imaginária do amor ocidental, são incompatíveis com a
sua verdadeira natureza: a de ser instinto
de reprodução, de procriação, e nada mais.
No passo a seguir, Schopenhauer nos
faz ver que o destino de todo amante é a decepção, o desencanto. O amante se
engana ao pretender colher do gozo amoroso as mais excelsas alegrias.
Todo amante experimenta, uma vez
satisfeito o desejo, uma decepção singular. Surpreende-se de que sua paixão só
lhe proporciona um prazer efêmero seguido de um rápido desencanto. (...) [Ele]
não tem consciência de que a espécie é quem unicamente lucra com a satisfação
de seu desejo; todos os sacrifícios que realizou voluntariamente, impelido pelo
gênio da espécie, serviram para obter uma finalidade que não era sua. (ibid.,
p. 22).
Se nos for permitido empregar um
vocábulo que, embora estranho ao pensamento schopenhaueriano, caracteriza bem a
condição do amante, esse vocábulo é o adjetivo “alienado”. O amante, ao viver seu amor, o vive na inconsciência de
ser um alienado, isto é, na ignorância do fato de que jamais é ele quem se
realiza no amor, de que não é ele, amante, que realmente se beneficia do amor.
Todo amante é, portanto, um ser alienado na medida em que não tem consciência
de que não é sobre ele que recai a vantagem do amor, mas sobre a espécie, que
garante, no ato da reprodução, sua perenidade.